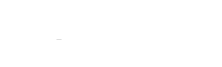Notícias
IBDFAM divulga Nota Técnica sobre a Lei de Alienação Parental
O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA – IBDFAM, associação civil sem fins lucrativos, com sede em Belo Horizonte - MG, CNPJ/MF nº 02.571.616/0001-48, entidade que congrega 26.000 (vinte e seis mil) inscritos, profissionais do Direito e de outras áreas afins que ao longo dos 27 anos de atuação se debruçam sobre o estudo aprimorado das famílias, vem, perante Vossa Excelência, por intermédio de sua Diretoria e das Comissões de Alienação Parental, de Relações Governamentais e Institucionais e de Assuntos Legislativos, apresentar Nota Técnica sobre a Lei nº 12.318/10 (Lei de Alienação Parental – LAP) e Lei nº 14.340/2022 (Lei de Aperfeiçoamento da LAP), conforme fatos e fundamentos aduzidos a seguir.
Como signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança, o Brasil comprometeu-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência física ou mental”, conforme expressa dicção do artigo 19.
Antes até desse compromisso internacional, já havia o Constituinte brasileiro reconhecido, no artigo 227 da Constituição de 1988, a obrigação solidária entre família, Estado e sociedade de zelar pela integridade física e psicológica de uma criança ou adolescente (vertentes do próprio direito à saúde), colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Relevante ressaltar que a Organização Mundial de Saúde (2006), ao classificar a violência contra a criança, o faz em quatro tipologias: abuso físico, sexual, emocional ou psicológico e negligência, inexistindo qualquer previsão de hierarquia entre os tipos de violência, tampouco de qualquer espécie de classificação de risco ou gravidade entre as tipologias. Violências são violências, independentemente de suas formas de manifestações.
Nesse toar, todos os esforços devem ser adotados para aperfeiçoar o combate à violência psicológica, com o mesmo rigor e a mesma dedicação dos atores e agentes públicos e civis à prevenção e combate às demais formas de violência.
Define-se violência psicológica como toda ação ou omissão destinada a degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões de outra pessoa, por meio de intimidação, manipulação, ameaça direta ou indireta, humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta que implique prejuízo à saúde psicológica, à autodeterminação ou ao desenvolvimento pessoal (Manual..., 2008).
A violência psicológica é a mais comum e menos visível, pela falta de materialidade do ato que atinge, sobretudo, o campo emocional e espiritual da vítima e pela falta de evidências imediatas de maus-tratos (Sacramento; Rezende, 2006).
Entre as modalidades de violência, é a mais difícil de ser identificada. Apesar de ser bastante frequente, ela pode levar a pessoa a se sentir desvalorizada, sofrer de ansiedade e adoecer com facilidade, situações que se arrastam durante muito tempo e, se agravadas, podem levar a pessoa ao suicídio. A violência psicológica causa ou visa causar dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa, e inclui ameaças, humilhações, chantagem, cobranças de comportamento, discriminação, exploração, críticas, entre outros (Brasil, 2001).
Dados da UNICEF estimam que quase 400 milhões de crianças menores de cinco anos – ou 6 (seis) em cada 10 (dez) crianças nessa faixa etária em todo o mundo – sofrem regularmente agressão psicológica ou castigo físico em casa, razão pela qual uma das recomendações da entidade aos governos é de que fortaleçam os esforços e investimento em “marcos legais e políticos que proíbem e acabem com todas as formas de violência contra crianças em casa” e “ampliar programas de parentalidade baseados em evidências que promovam abordagens positivas e lúdicas e previnam a violência familiar” (UNICEF, 2024).
No Brasil, os dados igualmente suscitam preocupação com a frequência de exposição da infância e adolescência brasileira à violência psicológica.
O Disque 100, serviço gratuito e acessível para registro e encaminhamento de denúncias de violações de direitos humanos, registrou, no primeiro semestre de 2021, 50.098 denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Desse total, 40.822 (81%) ocorreram dentro da casa da vítima, em que a mãe aparece como a principal violadora, com 15.285 denúncias; seguido pelo pai, com 5.861; padrasto/madrasta, com 2.664; e outros familiares, com 1.636 registros.
Entre os anos de 2020 a 2023, o Disque 100 registrou 53 violações a cada hora referentes à violência psicológica contra criança ou adolescente. Os dados gerais do SIPIA, SINAN e Disque 100 indicam a família como principal grupo identificado como prováveis agressores em situação de violência psicológica, principalmente mães (55%), pais (36%) e outros (9%). (Cadê Paraná, 2024). (Grifo nosso).
Pesquisa realizada pela Seção de Atendimento à Situação de Risco da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal (SASR/VIJ), em 2021, com 226 crianças e adolescentes, aponta que a violência psicológica foi a violação de direito mais sofrida, presente em cerca de 47% dos casos. Com relação aos agentes de violação de direitos, os pais biológicos foram os mais frequentes: a mãe biológica em quase 60% da amostra, seguida do pai biológico em 37,6% – podendo haver sobreposição de agentes violadores (Arvellos, 2022).
O Atlas da Violência, que usa registros do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, do Ministério da Saúde, sugere que o tipo de violência muda à medida que a criança cresce. Os infantes (0 a 4 anos) sofrem principalmente com a negligência (61,4%). Crianças (5 a 14 anos) são mais vítimas de violência psicológica (54,8%) e sexual (65,2%). Já os adolescentes (15 a 19 anos) são os principais alvos de violência física (58,2%) (Ribeiro, 2025).
Apesar da violência psicológica que atinge crianças e adolescentes não ser recente, apenas há 30 anos recebeu atenção internacional com crescente conscientização e sensibilização de profissionais e do público em geral (Abranches; Assis, 2011).
Referidos dados trazem à luz a importância da inserção, na agenda legal, judiciária e de políticas públicas, da identificação e combate à violência psicológica, o que o legislador brasileiro já vem realizando com diligência, como se observa do teor do artigo 19, § 1º, do Estatuto do Idoso, que trata da violência psicológica contra o idoso, bem como da Lei nº 14.188/2021, que trata da violência psicológica contra a mulher.
Atento às exigências da Proteção Integral, o legislador brasileiro já editou duas legislações relevantes em busca da garantia dos direitos à integridade psicológica e convivência familiar das crianças e dos adolescentes: a Lei nº 12.318/2010 (Lei de Alienação Parental) e a Lei nº 13.431/2017 (Lei da Escuta Protegida), nas quais o fenômeno da Alienação Parental é expressamente classificado como uma das formas de manifestação de violência psicológica contra crianças e adolescentes.
A Lei nº 12.318/2010 foi criada para retirar da invisibilidade o problema da manipulação dos afetos e pensamentos de uma criança ou de um adolescente, especialmente no cenário do transbordamento dos conflitos conjugais para a relação parental, transbordamento este que na Psicologia recebe o nome de “efeito spillover” (Bolze et al, 2017).
Com a legalização do divórcio e a substituição dos paradigmas sexistas do pátrio poder e da tenra infância pelo paradigma dos melhores interesses da criança na solução de litígios de custódia, vários pesquisadores passaram a identificar o mesmo fenômeno da interferência indevida na convivência familiar e na formação de dinâmicas de coparentalidades prejudiciais aos filhos, especialmente entre as décadas de 1970 a 1990.
A partir desse momento histórico, o mundo inteiro começou a fazer uma pergunta nunca feita antes: qual o efeito do divórcio sobre os filhos? Por isso, é essencial destacar que o conhecimento científico que vem sendo produzido sobre Alienação Parental bebe da mesma fonte dos estudos sobre os padrões de coparentalidade e o fato comprovado de que existem adultos que manipulam e influenciam suas crianças e adolescentes contra outro familiar significante, o que costuma ser identificado com maior preponderância (mas não exclusivamente) em situações de separação e divórcio.
Wilhelm Reich já havia escrito em seu livro clássico, Análise do Caráter, em 1949, que há pais que buscam vingança do parceiro roubando-lhe o prazer da criança. Em 1952, Louise Despert referiu-se, em seu livro Filhos do Divórcio, à tentação de um dos pais de decompor o amor do filho pelo outro pai (Bernet, 2010).
Em 1966, Bowen já fazia referências a triângulos patológicos que envolviam duas pessoas de uma família a excluir um terceiro membro, especialmente citando a coalisão de um dos pais para lograr o apoio do filho contra o outro genitor (O’Sullivan, 2018).
Em 1967, Haley propôs o termo “triângulo perverso”, para explicar a circunstância extrema de uma coalisão cross geracional, que causava distúrbios emocionais e comportamentais severos em crianças, caracterizada pela captação do filho por um dos pais para causar seu isolamento em relação ao outro genitor (O’Sullivan, 2018).
Desde a década de 1990, já advertia Féres-Carneiro (1998) à sociedade brasileira: a capacidade dos filhos em lidar com a separação dos pais vai depender sobretudo da relação estabelecida entre os pais e da capacidade destes de distinguir a função conjugal da função parental.
Pesquisas advertem que, em muitos casos, não há apenas a separação dos pais, mas também o afastamento da criança de um dos pais (Brito, 2007; Furstenberg; Nord, 1985; Martin, 1997), o que é atribuído ao padrão de relacionamento coparental conflitante, em que o nível de conflito é alto e ativo. Existem baixos níveis de cooperação e prejuízos no domínio parental, com pais que discutem muito e utilizam-se de ameaças e boicotes envolvendo os filhos (Maccoby; Depner; Mnookin, 1990).
Cite-se a pesquisa de Negrão e Giacomozzi (2015) com a análise de 27 casos de disputa de guarda ou regulamentação de visitas, que foram periciados pela Psicologia forense por determinação judicial em duas Varas de Família. As pesquisadoras apontam que em 20 deles houve a presença da tentativa de arruinar a imagem do outro genitor por parte de ao menos um dos genitores; em oito casos tal característica foi observada em mulheres, em seis casos esteve presente em homens e, em outros seis, casos tal comportamento foi manifestado por ambos os genitores.
Cite-se a pesquisa de Waquim (2018), com 134 participantes brasileiros, que reuniu 102 relatos de atos típicos de Alienação Parental e o reconhecimento, pela grande maioria dos participantes, de que a exposição a esses atos, quando crianças e adolescentes, acarretou consequências ao seu emocional e social, quando adultos.
No amplo universo de pesquisadores sobre o fenômeno da indevida interferência na convivência familiar de uma criança ou adolescente, com potencial de produzir efeitos psicológicos, o psiquiatra norte-americano Richard Gardner tornou-se conhecido por cunhar o termo “Síndrome de Alienação Parental”, por acreditar que o fenômeno observado era um diagnóstico de um cluster de sintomas a ser reconhecido.
Pesquisadores contemporâneos, porém, que continuaram na missão de produção de conhecimento científico a partir da observação do fenômeno, passam a entendê-lo não como uma patologia ou transtorno mental, mas como uma constelação de comportamentos disfuncionais de um adulto que viola direitos fundamentais de uma criança ou adolescente, como seu direito humano à convivência familiar saudável, bem como sua integridade psicológica.
Continuar denominando o fenômeno de Síndrome de Alienação Parental demonstra a desatualização quanto ao atual estágio da produção científica sobre o fenômeno, insuflando equivocados pontos de vista sobre a alegada “ausência de cientificidade” sobre o tema.
“Alienação Parental” é um termo utilizado tanto para se referir ao comportamento alienante do(a) genitor(a), quanto às características de uma criança alienada e a uma dinâmica familiar associada ao fenômeno.
O conceito mais atual do fenômeno da Alienação Parental refere-se a situações familiares em que uma criança, sem razão adequada ou justificável, expressa atitudes, crenças e comportamentos negativos em relação a um de seus genitores, principalmente devido às atitudes, crenças e comportamentos degradantes do genitor preferido (Baker, 2005; Bernet, 2010; Gardner, 2002).
Sullivan, Pruett e Johnston (2023) argumentam que AP é um tipo de problema de relacionamento entre um dos genitores e a criança (Parent Child Contact Problems – PCCP), no qual o fator que contribui de forma dominante para a resistência e recusa da criança é um padrão de comportamentos adotados pelo(a) genitor(a) preferido(a).
Alguns comportamentos parentais alienadores, ou Parental Alienation Behaviors (PAB), encontram-se exemplificados na Lei nº 12.318/2010, sendo denominados como “atos de alienação parental”. A lei enfatiza a atuação jurídica na prevenção e combate dos ilícitos consubstanciados no processo de desvinculação e afastamento físico ou psicológico da criança do genitor alvo.
É imperativo registrar que o mesmo fenômeno, observado por diferentes enfoques de cada pesquisador, recebeu diferentes alcunhas e nomes, como a lista abaixo permite ilustrar:
- lealdades invisíveis (Boszormenyi-Nagy, 1973);
- recusa de visitas (Wallerstein, 1976);
- alinhamento patológico (Wallerstein; Kelly, 1976);
- forte aliança (Johnston; Campbell; Mayes, 1985);
- Síndrome das Alegações Sexuais no Divórcio (Ross; Blush, 1985);
- Síndrome de Medeia (Jacobs, 1988);
- jogos familiares (Selvini-Palazzoli,1989);
- interferência na visitação de crianças e síndrome da mãe maliciosa (Turkat, 1994 e 1995);
- resistência à visitação (Stoltz, 2002);
- Síndrome da mãe ameaçada (Klass, 2005);
- polarização (Markan, 2005);
- falsas alegações de abuso infantil (Adams, 2006);
- complexo de Medeia (Depaulis, 2008);
- não localizeidinâmicas de recusa/resistência (Walters; Friedlander, 2016);
- alienação familiar induzida (Waquim, 2018);
- comportamentos parentais alienadores (Harman, 2020).
É essencial enfatizar que a Lei nº 12.318/2010, ao classificar expressamente o fenômeno da alienação parental como uma forma de violência psicológica contra crianças e adolescentes, foca-se nos “atos de alienação parental”, ou seja, nos “Comportamentos Parentais Alienadores” (PAB). Estes são condutas ilícitas que violam o direito fundamental da criança à convivência familiar saudável e à integridade psicológica.
A legislação brasileira, portanto, não adota o conceito de “Síndrome de Alienação Parental” como um diagnóstico médico ou psicológico, e sua fundamentação transcende as teorias específicas de Richard Gardner, alinhando-se a um vasto corpo de pesquisa sobre manipulação parental e suas consequências para a criança, conforme demonstrado pelas diversas terminologias e estudos citados.
Se os trabalhos de Richard Gardner não tivessem sido traduzidos para o português, qualquer das relevantes pesquisas produzidas pelos estudiosos acima poderiam de igual forma ter justificado a imprescindibilidade e a urgência da promulgação da Lei de Alienação Parental, pela vital necessidade de proteção da infância e adolescência contra essa modalidade de violência psicológica – que é uma infeliz realidade nos lares brasileiros.
A Lei de Alienação Parental vem complementar a proteção integral do Estatuto da Criança e do Adolescente, diante da lacuna sobre a proteção da convivência familiar de uma criança ou adolescente fora dos casos de colocação em família substituta. A promulgação de leis específicas para complementar os dispositivos do ECA é praxe no ordenamento jurídico brasileiro, como se vê da Lei do Bullying, da Lei da Palmada e da Lei Henry Borel, que visaram suprir lacunas protetivas que o legislador não havia previsto quando da edição do ECA em 1990.
A existência da Alienação Parental como fenômeno relevante para a proteção da infância em litígios é um constructo validado, inclusive, pela própria Organização Mundial de Saúde – OMS, que, alinhada ao conceito contemporâneo e objetivo de Alienação Parental, deixou de classificá-lo como doença, mas registra em seu site especificamente que:
Durante o desenvolvimento da CID-11, foi tomada a decisão de não incluir o conceito e a terminologia de ‘alienação parental’ na classificação, porque não é um termo de cuidados de saúde. O termo é bastante utilizado em contextos jurídicos, geralmente no contexto de disputas de custódia em divórcio ou outra dissolução de parceria.
(...)
A OMS revisou minuciosamente todos os materiais fornecidos e considera que:
- A alienação parental é uma questão relevante para contextos judiciais específicos.
- A inclusão do termo na CID-11 não contribuirá para as estatísticas de saúde.
- Não existem intervenções de saúde baseadas em evidências específicas para alienação parental.
Nas situações em que um indivíduo rotulado com este termo se apresenta para atendimento de saúde, outros conteúdos da CID-11 são suficientes para orientar a codificação. Os usuários podem classificar os casos como “problema de relacionamento cuidador-criança”. (OMS, [s.d.])
A posição da Organização Mundial de Saúde (OMS) de não incluir a “alienação parental” como um termo de cuidados de saúde em sua CID-11, mas reconhecê-la como uma “questão relevante para contextos judiciais específicos” e cujos casos podem ser classificados como “problema de relacionamento cuidador-criança”, corrobora a abordagem da lei brasileira, que trata de atos e condutas no âmbito jurídico, e não de um diagnóstico clínico. Esta distinção é fundamental para desfazer o equívoco de que a lei estaria baseada em uma pseudociência médica.
O fato de não existir uma Síndrome de Alienação Parental reconhecida pela comunidade científica, não impede o reconhecimento da violência psicológica do Comportamento Parental Alienador – ato de alienação parental – contra a criança, que viola seu direito fundamental à convivência familiar, bem como pode violar sua integridade psicológica. Os comportamentos parentais alienadores são, à exaustão, reconhecidos pela literatura científica nacional e internacional, representando danosa modalidade de prática de violência psicológica contra a infância.
De igual forma, a Organização das Nações Unidas valida a existência do fenômeno da Alienação Parental e sua relevância para a proteção da infância, tanto que, ao ser apresentado o Relatório A/HRC/53/36 pela Consultora Independente Reem Alsalem, dito Relatório foi excluído de pauta e recusado da votação, constando do próprio site da ONU a informação de “WITHDRAWN” (retirado) (ONU, 2023).
Ao contrário do que é equivocadamente divulgado no Brasil, não houve aprovação do Relatório A/HRC/53/36 pela 53ª Assembleia Geral da ONU, sendo falsa a afirmação de que a ONU ratifica os termos do referido relatório independente.
Consta, da mesma 53ª Assembleia Geral da ONU, em 13/07/2023, a apresentação da manifestação A/HRC/53/NGO/217 da International Alliance of Women, que defende:
(...) retratar a Alienação Parental como uma pseudoteoria não faz justiça à realidade cotidiana. Devemos reconhecer que crianças são alienadas de um dos pais por comportamento manipulador do outro. A Alienação Parental é uma forma pérfida de exercer violência psicológica especificamente sobre um dos pais, com o dano colateral de que a criança também é prejudicada sem estar inicialmente ciente disso.
(...)
Não entendemos por que alguns grupos resistem tanto em reconhecer a existência da Alienação Parental. Negar situações evidentes é quase como afirmar que a Terra é plana
(...)
Estamos ansiosos por mais pesquisas científicas nesta área que coloquem à prova verdades percebidas. A alegação de que a Alienação Parental é uma pseudoteoria sem base científica parece arbitrária.
O pensador pioneiro nesse campo caiu em descrédito, está sendo desconstruído 20 anos após sua morte, e o descrédito é transferido aos atuais pesquisadores da área por meio da desconfiança. Essa abordagem é indigna do atual estágio do desenvolvimento humano; viés e preconceito não têm lugar no século XXI. Negar o método da Alienação Parental priva os cientistas da base financeira para continuar pesquisando o tema com vistas a resultados amplamente aceitos.
Em suas considerações finais, a International Alliance of Women declara: a Alienação Parental existe e não é específica de gênero; a Alienação Parental é uma forma de violência psicológica contra o pai/mãe alienado e, em última instância, contra a criança; a Alienação Parental deve ser conhecida de forma que permita aos profissionais agirem em ambas as direções – nos casos reais e nos simulados.
A manifestação A/HRC/53/NGO/217 da International Alliance of Women perante a ONU está disponível em: https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/53/Pages/resolutions.aspx.
Os possíveis efeitos na criança de conviver com violência psicológica são enumerados por vários estudiosos, tais como: incapacidade de aprender, incapacidade de construir e manter satisfatória relação interpessoal, inapropriado comportamento e sentimentos frente a circunstâncias normais, humor infeliz ou depressivo e tendência a desenvolver sintomas psicossomáticos (Abranches, Assis, 2011).
Especificamente quanto às consequências de sofrer práticas de Alienação Parental, os estudos internacionais correlacionam essa experiência a maiores taxas de depressão (na adolescência e vida adulta), baixa autoestima e dificuldades de relacionamentos futuros (China: Wang et al, 2023; Alemanha: González, 2023; Espanha: Soto; Leonhardt, 2022; Itália: Baker, Verrocchio, 2016).
O IBDFAM reconhece as importantes contribuições e as posições manifestadas por conselhos profissionais, como o Conselho Federal de Psicologia (CFP) e o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). Entendemos que a autonomia e a ética profissional são pilares essenciais de suas atuações. Contudo, é imperativo esclarecer que a Lei nº 12.318/2010 se refere a “atos de alienação parental”, ou seja, a condutas que configuram violência psicológica contra crianças e adolescentes no contexto familiar. Convidamos esses conselhos e suas respectivas categorias a um diálogo construtivo para aprimorar a aplicação da lei, garantindo que as avaliações e intervenções profissionais ocorram em estrita conformidade com suas melhores práticas e padrões éticos, focando na proteção integral da criança e do adolescente contra todas as formas de violência, incluindo a manipulação psicológica.
O IBDFAM reitera seu compromisso com a integridade científica, a ética no debate jurídico-político e a responsabilidade central de proteção das crianças e adolescentes contra todas as formas de violência, seguindo a exigência constitucional da parte última do artigo 227 da Constituição da República.
O IBDFAM reitera, também, o posicionamento já divulgado pela Cartilha Alienação Parental (Waquim, 2025), de que a Lei de Alienação Parental representa um marco civilizatório: nunca, antes, a integridade psicológica dos filhos foi objeto de atenção; nunca, antes, os efeitos adversos dos conflitos entre os pais foi objeto de preocupação; nunca, antes, o exercício do poder familiar se viu obrigado a respeitar a condição de sujeitos de direitos dos filhos menores de idade.
Quando se ataca a Lei de Alienação Parental, ataca-se toda uma luta coletiva em prol da igualdade parental, da guarda compartilhada e da identificação de violências no espaço da família; ataca-se, também, as Instituições do Sistema de Justiça, consideradas falhas, preconceituosas e inoperantes sem que sequer tenha sido conduzido um estudo empírico sério para demonstrar que, de fato, a lei esteja sendo mal aplicada e que a recorrência da má aplicação deve justificar sua revogação.
A revogação da Lei de Alienação Parental não resolverá as questões complexas da violência contra mulheres e do abuso infantil. Ao contrário, invisibilizará comportamentos alienadores que afetam crianças e adolescentes, independentemente do gênero do genitor que os pratica. Embora se reconheça a existência de casos em que a lei foi utilizada de forma distorcida, impactando desproporcionalmente mães que denunciam abusos, essa má aplicação não invalida a necessidade de proteger crianças da violência psicológica.
A solução reside em um sistema de justiça mais capacitado e com recursos adequados para identificar corretamente as diversas formas de violência e proteger todos os envolvidos, garantindo uma justiça com perspectiva de gênero que ampare tanto as vítimas de alienação parental, que podem ser homens ou mulheres, quanto as mulheres que sofrem violência doméstica e são indevidamente acusadas de alienação.
A alienação parental, como fenômeno, atravessa a questão de gênero. Ela não é perpetrada por um sexo contra outro, mas por um adulto contra outro, movido por ressentimento, vingança, controle ou instabilidade emocional, utilizando a criança como instrumento da disputa.
A revogação da lei sob a justificativa de proteger as mulheres é, ironicamente, uma forma de silenciar muitas mulheres que hoje dependem dessa legislação para denunciar que estão sendo afastadas injustamente de seus filhos. É necessário reconhecer também que mulheres são vítimas da Alienação Parental em contextos marcados pelo machismo estrutural, em que, muitas vezes, o poder econômico ou o prestígio do genitor masculino é usado para tentar influenciar decisões judiciais ou manipular a percepção da criança.
Se queremos de fato uma justiça com perspectiva de gênero, então precisamos garantir que ela veja o gênero em todos os lados – inclusive no das mulheres que sofrem alienação, como mães, avós, que são silenciadas, invisibilizadas, e que também precisam da proteção do Estado
Casos célebres como o de Zélia Gatai, esposa de Jorge Amado, alienada de seu filho mais velho; Yoko Ono, esposa de John Lennon, alienada de sua filha; Lita Ford, guitarrista inglesa ativista pela conscientização contra a alienação parental desde que sua filha foi alienada pelo ex-marido; Theresa Godly, atriz e produtora do curta-metragem “The Stranger I Love”, inspirado em sua história real como vítima de Alienação Parental praticada pelo ex-marido; além de tantos outros casos que demonstram: a Alienação Parental não escolhe o gênero de suas vítimas.
A resposta institucional adequada às preocupações legítimas sobre a aplicação da Lei nº 12.318/2010 não é a sua eliminação, mas sim o seu constante aprimoramento. A edição da Lei nº 14.340/2022 representou um passo fundamental nesse sentido, fruto de amplo debate no Congresso Nacional. No entanto, o IBDFAM defende que as discussões sobre a aplicação da lei precisam ser aprofundadas, com foco em:
1) Capacitação continuada e especializada de juízes, promotores, defensores públicos, psicólogos e assistentes sociais para identificar corretamente a violência psicológica e a alienação parental, diferenciando-a de denúncias legítimas de abuso;
2) Investimento em infraestrutura e equipes multidisciplinares qualificadas nos tribunais para a realização de avaliações psicossociais completas e aprofundadas, que garantam o devido processo legal e o melhor interesse da criança;
3) Adoção de diretrizes claras para evitar a instrumentalização da lei como estratégia processual indevida e para assegurar que as medidas protetivas sejam prioritárias em casos de denúncia de violência doméstica e sexual.
Por todas essas razões, o IBDFAM, sugere, mais uma vez, a necessidade de manutenção da Lei nº 12.318/2010 com o seu aperfeiçoamento, inclusive no que diz respeito à sua aplicação, que devem ser discutidos por toda sociedade civil, com a realização de audiências públicas, sob pena de enfraquecimento de todo um sistema protetivo que vem sendo construído, paulatinamente, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, ratificando todos os termos da Nota Técnica apresentada pelo Of. Pres. nº 12 de 21 de maio de 2021.
O IBDFAM reitera que o combate à violência psicológica contra crianças e adolescentes, incluindo a Alienação Parental, e o combate à violência doméstica e ao abuso sexual não são objetivos mutuamente excludentes. Ao contrário, são faces complementares da proteção integral que devemos a nossas crianças e adolescentes. A existência de distorções na aplicação da lei demanda aperfeiçoamento contínuo, formação adequada dos profissionais envolvidos e investimento em estrutura, não a eliminação de uma ferramenta legal importante para a proteção da infância.
Proteção não se revoga, se reforça. A existência da Lei de Alienação Parental reafirma o compromisso do Brasil em cumprir a Convenção sobre os Direitos da Criança, que prevê, em seus artigos 8, 1 e 2, do Decreto 99.710/1990, o direito de a criança preservar sua identidade, incluindo suas relações familiares, de acordo com a lei, sem interferências ilícitas, assim como, em respeito ao artigo 16, 1 e 2 do mesmo diploma, o Brasil garante que nenhuma criança seja objeto de interferências arbitrárias ou ilegais em suas famílias e domicílios, por meio da criação de leis que protegem tais cidadãs hipervulneráveis destas interferências ou atentados – no que se inclui a Lei nº 12.318/2010.
REFERÊNCIAS
ADAMS, Michele. Framing Contests in Child Custody Disputes: Parental Alienation Syndrome, Child Abuse, Gender, and Fathers' Rights
June 2006 Family Law Quarterly 40(2):315-338
BOLZE, Simone Dill Azeredo. BÖING, Elisangela. SCHMIDT, Beatriz.
CREPALDI, Maria Aparecida. Conflitos conjugais e parentais em famílias com
crianças: características e estratégias de resolução. Paidéia, vol.27, 2017,
Suppl.1, 457-465. Disponível em:
abr. 2019.
Brito, L. M. T. (2007). Família pós-divórcio: A visão dos filhos. Psicologia ciência e profissão, 27(1), 32-45.
Blush GJ, Ross KL. Sexual allegations in divorce: the SAID syndrome. Concil Cts Rev. 1987;25:1
Depaulis, A. (2008). Le complexe de Médée. Quand une mère prive le père de ses enfants. Leuven: DeBoeck Université
Féres-Carneiro, T. (1998). Casamento contemporâneo: o difícil convívio da individualidade com a conjugalidade. Psicologia: Reflexão e Crítica, 11, 379-394.
Furstenberg, F. & Nord, C. (1985). Parenting apart: patterns of childrearing after marital disruption. Journal of Marriage and the Family, 47, 893-904.
GARDNER, Richard. A. Parental Alienation Syndrome vs. Parental Alienation: Which Diagnosis Should Evaluators Use in Child- Custody Disputes? The American Journal of Family Therapy, 30(2):93-115, (2002). Disponível em: < www.fact.on.ca/Info/pas/gard02b.htm>.
Harman, J. J., & Matthewson, M. L. (2020). Parental alienating behaviors. In D. Lorandos & W. Bernet (Eds.), Parental alienation: Science and law (pp. 82–141). Charles C Thomas Publisher, Ltd..
Jacobs, J. W. (1988). Euripides' Medea: A psychodynamic model of severe divorce pathology. American Journal of Psychotherapy, 42(2), 308–319.
Klass, J., & Klass, J. V. (2005). Threatened Mother Syndrome (TMS): A Diverging Concept of Parental Alienation Syndrome (PAS). American Journal of Family Law, 18(4), 189–191.
Maccoby, E., Depner, C., & Mnookin, R. (1990). Coparenting in the second year after divorce. Journal of Marriage and the Family,52, 141-155.
MARKAN, Lynne Kenney; WEINSTOCK, David K. Expanding forensically informed evaluations and therapeutic interventions in family court. Family Court Review, v. 43, n. 3, p. 466-480, 2005.
Martin, C. (1997). L’aprés divorce-lien familial et vulnerabilité. Remes: PUR.
Stoltz, J. and Ney, T. 2002 Resistance to visitation: Rethinking parental and child alienation, Family Court Review, 40: 220-241
Turkat, I.D. Divorce-Related Malicious Parent Syndrome. Journal of Family Violence 14, 95–97 (1999). https://doi.org/10.1023/A:1022874211739
WALTERS, M. G., & FRIEDLANDER, S. (2016). When a child rejects a parent: Working with the intractable resist/refuse dynamic.
Family Court Review, 54(3), 424–445. https://doi.org/10.1111/fcre.12238
Wallerstein, J. S., & Kelly, J. B. (1976). The effects of parental divorce: Experiences of the child in later latency. American Journal of Orthopsychiatry, 46(2), 256–269
Wallerstein, J. S. (1976). Children of divorce: Preliminary report of a ten-year follow-up of older children and adolescents. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 24 (5), 545–553.
WAQUIM, Bruna Barbieri. Cartilha Alienação parental ( livro eletrônico). Belo Horzzonte, MG: IBDFAM, 2025.
Atendimento à imprensa: ascom@ibdfam.org.br