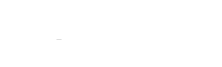Artigos
Da (In)Capacidade do Ausente para a Prática de Atos da Vida Civil: Uma Breve Análise do Artigo, III do CC/2002
Na sistemática do Código Civil de 1916, o ausente foi incluído pelo legislador no rol das pessoas tidas como absolutamente incapazes para exercer pessoalmente a prática de atos da vida civil. Nos termos do art. 5º, IV 1 do estatuto legal, uma vez reconhecida a ausência pelo juiz, nomeava-se um curador para administrar-lhe os bens 2 e, desde então, o indivíduo era automaticamente reputado incapaz, submetendo-se, por conseguinte, a todas as restrições inerentes ao regime das incapacidades.
A princípio, a disciplina tinha por escopo não só assegurar os interesses daquele que era declarado ausente, mas, sobretudo, garantir a segurança das relações pessoais e patrimoniais que envolvessem bens, direitos e interesses seus.
Não obstante, ela encontrava grande resistência e críticas contundentes entre os doutrinadores, que preconizavam que a curadoria prevista no art. 463 do CC/1916 destinava-se apenas aos bens do ausente, não sofrendo a sua pessoa, tampouco a sua capacidade, qualquer espécie de limitação. Quando muito, poderia se falar, na espécie, em uma pseudo-incapacidade, em um sistema próximo, semelhante, mas não equivalente ao da incapacidade em todos os seus termos:
"O instituto da ausência é o meio técnico de proteção dos interesses daquele que tenha desertado seu centro de atividades, e é por via dele que o juiz nomeia um zelador dos bens do ausente, que os defenda de investidas e dilapidações. Mas é, simultaneamente, um instituto de projeção social, com o propósito de defender do perecimento aquele patrimônio, proporcionando a sua transmissão aos herdeiros e promovendo, desta sorte, a sua utilidade coletiva. A linguagem legal de 1916 é, porém, inadequada, pois não existe uma incapacidade por ausência, mas uma necessidade de resguardo dos interesses do que se ausenta, assentada em razão lógica irrecusável: a impossibilidade material de cuidar este de seus bens e de seus interesses e a conseqüente impraticabilidade jurídica de se conciliar o abandono domiciliar com a conservação dos direitos" 3.
Atento às inúmeras objeções apresentadas pela doutrina acerca da sistemática das incapacidades no CC/16, o CC/02 procurou reformular toda a sua disciplina.
Quanto aos ausentes, o novo diploma manteve a previsão de nomeação de curador pelo juiz, tão logo declarada a ausência 4. Entretanto, foi expresso ao afirmar que tal curadoria refere-se apenas aos bens e não à pessoa do ausente, quando intitulou a Seção I do Capítulo III como "Da curadoria dos bens do ausente" (e não mais como "Da curadoria de ausentes", tal qual constava na Seção I do Capítulo III do Código Civil de 1916).
Outrossim, à luz da redação dada aos artigos 3º 5 e 4º 6, tudo indica que, pelo menos a primeira vista, o legislador excluiu os ausentes do elenco dos incapazes, submetendo-os, portanto, ao regime geral da capacidade civil.
Diz-se a primeira vista em razão da previsão um tanto quanto vaga contida no artigo 3º, III do CC/2002, que considera absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil aqueles que, "mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade".
É exatamente nesse contexto que surge o presente estudo, com o qual se busca responder a seguinte questão: está o ausente incluído na regra contida no artigo 3º, III, sendo considerado, portanto, como absolutamente incapaz ainda sob a égide do CC/02, ou não?
Inicialmente, será feita uma breve exposição sobre os institutos da capacidade e da curadoria de ausentes, de forma a aferir o seu conceito e as suas finalidades para, em seguida, determinar o real alcance do enunciado do artigo 3º, III do CC/2002.
2. A capacidade
Na seara do Direito Civil, o vocábulo capacidade é comumente empregado em duas acepções distintas, quais sejam: (I) para designar a chamada capacidade de gozo ou de direito - que, nos termos do art. 1º 7 do CC/02, é a atribuída a todas as pessoas físicas ou jurídicas 8; e (II) para designar a chamada capacidade de fato ou de exercício - que, a seu turno, é outorgada apenas àqueles que a lei considera capazes de manifestar a sua vontade de forma consciente e livre.
A capacidade de direito refere-se à aptidão para ser titular de direitos e obrigações na ordem civil, ou seja, à capacidade de ser sujeito da relação jurídica. A capacidade de fato, por sua vez, diz respeito à aptidão para exercer, por si ou por outrem, os atos da vida civil, isto é, à "susceptibilidade de utilizar ou desenvolver, só por si ou mediante procurador, a própria capacidade de gozo" 9.
Na disciplina adotada pelo legislador brasileiro, desde a edição do CC/16, a regra sempre foi a da capacidade. A capacidade, destarte, "se presume. É a regra. Sendo a capacidade o quod plerumque fit, como conseqüência da situação normal da personalidade, a presunção da capacidade do agente é um corolário lógico. De modo que, até prova em contrário, tôda pessoa se presume capaz" 10 e, como tal, apta à prática de todo e qualquer ato da vida civil.
Como toda regra, porém, comporta exceções: no Código Civil em vigor elas vêm insertas nos artigos 3º e 4º, por força dos quais a capacidade de exercício da pessoa é expressamente limitada pela lei, total ou parcialmente, em razão de fatores como, por exemplo, a sua idade ou seu estado de saúde.
Com efeito, casos há em que o legislador presume o indivíduo inapto para exercer livremente os seus direitos e administrar os seus interesses e, em razão disto, cria um regime de incapacidade. "A razão que impulsiona a legislação a declarar determinadas pessoas como inábeis ao exercício de seus direitos é o reconhecimento de que estas não têm condições, seja em virtude da pouca idade ou de doença, de administrar seus próprios interesses. Desta forma, a manifestação de vontade destas pessoas não se constitui em elemento suficientemente hábil à pratica de atos jurídicos, pois lhe carecem discernimento, maculando assim a própria vontade" 11.
É certo que a inaptidão para a prática de atos da vida civil comporta vários graus e diferentes motivos que, evidentemente, são valorados pelo ordenamento jurídico. Esta valoração cria, por conseguinte, uma escala de atuação que compreende desde a incapacidade absoluta até a capacidade plena, passando pela (in)capacidade relativa.
Há incapacidade absoluta sempre que o indivíduo não tem qualquer condição de compreender e discernir os atos da vida civil, de forma a administrar pessoalmente os seus interesses. Tal inaptidão é presumida pelo legislador nas hipóteses previstas pelo artigo 3º do CC/2002 e, uma vez não observada, inquina de nulidade o ato praticado.
A incapacidade relativa, a seu turno, ocorre quando o indivíduo é dotado de algum discernimento que, no entanto, não é por si só suficiente para credenciá-lo a praticar o ato sozinho, impondo-lhe o auxílio de alguém. É o que se dá nas hipóteses previstas pelo artigo 4º do CC/2002. Como aqui a compreensão já se faz presente, ainda que apenas em certa medida, a inobservância da incapacidade não tem o condão de tornar nulo o ato, mas tão-só de possibilitar a sua anulação.
A criação do regime de incapacidade tem como principal escopo a proteção, a tutela do próprio incapaz. Como acentua a melhor doutrina:
"O instituto das incapacidades foi imaginado e construído sobre uma razão moralmente elevada, que é a proteção dos que são portadores de uma deficiência juridicamente apreciável. Esta é a idéia fundamental que o inspira, e acentuá-lo é de suma importância para a sua projeção na vida civil, seja no tocante à aplicação dos princípios legais definidores, seja na apreciação dos efeitos respectivos ou no aproveitamento e na ineficácia dos atos jurídicos praticados pelos incapazes. A lei não institui o regime das incapacidades com o propósito de prejudicar aquelas pessoas que delas padecem, mas, ao revés, com o intuito de lhes oferecer proteção, atendendo a que uma falta de discernimento, de que sejam pacientes, aconselha tratamento especial, por cujo intermédio o ordenamento jurídico procura restabelecer um equilíbrio psíquico, rompido em conseqüência das condições peculiares dos mentalmente deficitários" 12.
É este o espírito que, sem dúvida, deve nortear a interpretação dos dispositivos do Código Civil que regulam a matéria, sobretudo quando, como no presente, o que se visa é determinar o seu alcance e a sua extensão.
3. A curadoria de ausentes
O Código Civil em vigor, tal qual o diploma anterior, não contempla uma definição de ausente ou ausência. No entanto, o artigo 22 nos fornece todos os elementos necessários para a construção de tal definição ao dispor que:
Art. 22, CC/2002 - "Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência, e nomear-lhe-á curador".
A teor do dispositivo, dois - e apenas dois - são os requisitos exigidos para a caracterização da ausência: o desaparecimento da pessoa e a falta de notícias quanto ao seu paradeiro. Em sua acepção técnica, portanto, "o termo ausência não coincide com o significado que vulgarmente se atribui a este vocábulo, e que, aliás, a própria lei em disposições dispersas utiliza, de simples não presença de alguém em certo local, maxime no seu domicílio. Antes, as providências que a lei refere nos artigos citados, pressupõem um sentido técnico, rigoroso, de ausência, traduzido num desaparecimento sem notícias" 13.
Sempre que presentes esses dois elementos, a ausência deverá ser reconhecida e declarada pelo juiz, que, ato contínuo, deverá, também, nomear um curador para administrar os bens daquele que desapareceu. Neste momento tem início a chamada "curadoria de ausentes ou de bens de ausentes".
A nomeação do curador tem como fundamento a necessidade de prover os bens e interesses abandonados pelo ausente, de forma a evitar a sua deterioração, perda ou extravio:
"Neste primeiro período da curadoria dos bens do ausente, em nome dêste, quer o Código que sejam administrados os bens abandonados, isto é, deixados sem pessoa que se incumba de zelar e olhar por êles, de modo a evitar que se extraviem, deteriorem ou se percam" 14.
Deve-se destacar que, embora o artigo 22 afirme que o curador será nomeado para administrar os bens do ausente e grande parte da doutrina sustente ser esta a sua única função, o artigo 24 15 do Código Civil em vigor, enunciando norma que repete o artigo 465 16 do estatuto anterior, deixa a cargo do juiz fixar os poderes e obrigações que serão outorgados ao curador.
É evidente que o texto do artigo 24 deve ser analisado em conjunto com o texto do artigo 22, de forma a se alcançar uma interpretação sistemática e harmônica, mas há quem sustente, como CARVALHO SANTOS, que o curador teria amplos poderes de administração e representação do ausente, nos seguintes termos:
"Ao juiz é que cabe fixar os poderes e obrigações do curador que nomear, procurando nessa fixação, por analogia, seguir o que o Código dispõe sôbre os poderes e obrigações do tutor e curador. Essas obrigações, no Direito anterior, foram assim consolidadas: a) promover a arrecadação e administrar os bens do ausente; b) representá-lo em juízo e fora dêle; c) fazer frutificar ou arrendar os bens de raiz; d) requerer sua venda em hasta pública, quando corram risco de se depreciarem ou arruinarem, ou quando fôr necessário pagar credores do ausente; e) requerer a venda, em hasta pública, dos móveis e títulos cuja conservação fôr prejudicial; f) promover a cobrança das dívidas ativas; g) recolher aos cofres públicos o ouro, prata, jóias, títulos da dívida pública e dinheiro etc" 17.
A despeito disto, o certo é que, tal ocorre na disciplina das incapacidades, também na curadoria de ausentes (ou de bens de ausentes, se se preferir) o escopo da regulamentação é eminentemente protetivo.
Com efeito, em ambos os casos, o ordenamento jurídico entende necessária a criação de um regime especial, com vistas a tutelar os interesses de determinados indivíduos que, a seu ver, são carecedores da tal proteção e assim o faz.
Por conseguinte, tanto aqui, como lá, é este o espírito que deve orientar a interpretação dos dispositivos do Código Civil que disciplinam a matéria, mormente de forma a determinar, com precisão, o seu real alcance e a sua extensão.
4. A (in)capacidade do ausente: o alcance do enunciado do inciso III do art. 3ºdo CC/2002
O CC/16, consoante outrora já se assentou, contemplava o ausente no rol das pessoas absolutamente incapazes, em disciplina veementemente criticada na doutrina civilista, que considerava indevida tal inclusão, eis que a curadoria prevista no art. 463 do CC/16 destinava-se apenas à administração dos bens do ausente, com vistas a assegurar a sua preservação, não sofrendo a sua pessoa, mormente a sua capacidade, qualquer tipo de restrição.
O tão-só fato de o ausente estar desaparecido de seu domicílio, ainda que sem mandar notícias ou deixar procurador, não impediria, por si só e a priori, que ele continuasse a gerir, plenamente, os seus interesses onde quer que se encontrasse, praticando, regularmente, todo e qualquer ato da sua vida civil.
Nem a necessidade de tutela especial do ausente e do incapaz - razão de ser de ambos os institutos - se fazia presente na espécie, na medida em o risco de perecimento, extravio ou perda dos bens já estava assegurada por força do artigo 463.
Outrossim, não raras vezes, a previsão criava uma situação um tanto quanto embaraçosa, na medida em que, simultaneamente, reputava o ausente capaz e incapaz, sem estabelecer qualquer critério de preferência de uma situação em relação à outra e, mais grave, quando não havia nada que justificasse a dualidade na disciplina.
Exatamente em razão disso, o CC/02 visou excluir o ausente do regime legal dos absolutamente incapazes, ao dar uma nova roupagem ao seu artigo 3º (artigo 5º, CC/16).
Não obstante, foi extremamente infeliz na redação do inciso III, ao estatuir, de forma genérica e imprecisa, que:
Art. 3º - São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:
I - os menores de 16 (dezesseis) anos;
II - os que, por enfermidade mental, não tiveram o necessário discernimento para a prática desses atos;
III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade.
Quando o legislador diz que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil aqueles que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade, sem dúvida nenhuma, dá margem à dúvida na sua interpretação e permite sim que o ausente venha a ser aí inserido.
Isto porque "não importa o motivo, o que determinará a capacidade absoluta, no caso deste inciso, será a possibilidade de expressão da vontade. [...] Qualquer pessoa que possua um motivo, seja este transitório ou permanente, impeditivo de realizar a manifestação de sua vontade será considerada absolutamente incapaz" 18.
Ora, é evidente que quando a ausência do indivíduo for voluntária, ele não incidirá no comando do dispositivo. E não incidirá por uma razão muito simples, qual seja, a inexistência de impedimento para que ele, livremente, possa manifestar a sua vontade, pressuposto legal para a caracterização da incapacidade regulamentada no inciso III.
É que em se tratando de ausência voluntária, o indivíduo poderá efetivamente exteriorizar a sua vontade se e quando lhe for conveniente, onde quer que ele se encontre, bastando, para tanto, que queira. Não estará, portanto, efetivamente impedido de administrar e gerir seus bens, nem, tampouco, de praticar qualquer ato da vida civil, não carecendo, portanto, de proteção por parte da legislação. A ausência aqui decorre de uma opção da pessoa; é ato de manifestação de vontade livre e consciente do indivíduo, que deve ser respeitado pela ordem jurídica, e em relação ao qual não existe qualquer razão para a aplicação de um tratamento diferenciado.
Em contrapartida, porém, tratando-se de ausência involuntária, na qual a pessoa, por motivos que estão além da sua esfera de atuação, encontra-se física, moral ou materialmente impossibilitada de expressar a sua vontade, inequivocamente que incorrerá na hipótese descrita no texto do inciso III. É que o único critério para a incidência ou não do dispositivo é a possibilidade ou não de expressão da vontade. Nenhum outro mais. Esta, inequivocamente, ficará comprometida quando se tratar de ausência involuntária, sendo certo que, nesse caso, a tutela especial do ordenamento jurídico se fará necessária e justificará a proteção.
Um problema que surge na prática 19 é, sem dúvida, conseguir distinguir se se está diante de uma hipótese de ausência ou de desaparecimento voluntário ou involuntário 20, de modo a se estabelecer o regramento legal que deverá ser aplicado.
À vista da diversidade de situações e motivos que podem circundar o desaparecimento e posterior ausência de uma pessoa 21 não há como se determinar, notadamente a priori, se o caso é de ausência voluntária ou involuntária. Isso demandará investigação policial ou mesmo investigações particulares por parte da família, a pesquisa entorno das causas do desaparecimento, os antecedentes e o histórico de vida do desaparecido, sua saúde física e mental, sua rede de relações sociais, o acompanhamento e observação quanto a eventuais movimentações financeiras, alienação de patrimônio, etc., que serão responsáveis por indicar os interessados a natureza da ausência.
De todo modo, certo é que a norma inserta no inciso III do artigo 3º do CC/02 alcançará a tutela do ausente e permitirá que ele seja reputado como absolutamente incapaz, apenas e tão somente quando a sua ausência decorrer de motivos alheios à sua vontade e, em razão disso, vier de algum modo a impedir a livre manifestação do seu querer, não incidindo, porém, nos casos em que a ausência (ou desaparecimento) decorrer de ato voluntário seu.
5. Bibliografia
ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Teoria geral da relação jurídica. v. I. Coimbra: Almedina, 1983.
ARRUDA ALVIM, J. M. [coord.]. Comentários ao código civil brasileiro. v. I - Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
BEVILAQUA, Clovis. Código civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. v. I. 12.ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1959.
CARVALHO, Francisco Pereira de Bulhões. Incapacidade civil e restrições de direito. v. 1 e 2. São Paulo, 1957.
CARVALHO SANTOS, J. M.. Código civil brasileiro interpretado. v. I e VI - Introdução, Parte Geral e Direito de Família. 8. e 7. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1958.
CUNHA GONÇALVES, Luiz da. Tratado de direito civil. v. II, t. I. 2.ed. São Paulo: Max Limond, 1955.
GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 18.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002.
LOTUFO, Renan. Código civil comentado. v. I - Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2003.
MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil português. v. I, t. III - Pessoas. Coimbra: Almedina, 2004.
MOTA PINTO, Carlos Alberto da. Teoria geral do direito civil. 3.ed., actual. Coimbra: Coimbra Editora, 1986.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. v. I e V. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado. Parte Especial, t. IX - Direito de Família. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955.
TEPEDINO, Gustavo [coord.]. A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva constitucional. Rio de Janeiro: 2002.
TEPEDINO, Gustavo et all. Código civil interpretado. v. I - Parte Geral e Obrigações. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.
Notas
1 Art. 5º, IV, CC/1916 - "São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os ausentes, declarados tais por ato do juiz".
2 A propósito, confira: Art. 463, CC/1916 - "Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem que dela haja notícia, se não houver deixado representante ou procurador, a quem toque administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, ou do Ministério Público, nomear-lhe-á curador".
3 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. v. I. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 175. No mesmo sentido, são também as lições de ORLANDO GOMES: "A ausência é incluída entre os casos de incapacidade (art. 5º, n.º 4, do Cód. Civil). Não se trata, porém, de uma incapacidade em sentido próprio, mas apenas da submissão do patrimônio da pessoa desaparecida a um regime de curatela, assemelhado ao da pessoa incapaz" (Introdução ao direito civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, n. 75, p. 148). E, ainda, as lições de WANDERLEI DE PAULA BARRETO: "Definitivamente, não se trata de hipótese de incapacidade; não se cuida de cura personae, mas sim de cura rei; a curadoria não é para a pessoa do ausente, senão para os seus bens. A capacidade da pessoa do ausente não sofre qualquer restrição. Lá onde ele se encontra, seja onde for, continuará inalterada a sua vida, o seu estado civil de capacidade será o mesmo. Assim, se era maior e capaz, poderá praticar todos os atos da vida civil; se era solteiro, divorciado ou viúvo, poderá casar-se; se era menor e veio a atingir a maioridade, tornar-se-á plenamente capaz, etc" (BARRETO, Wanderlei de Paula. In: ARRUDA ALVIM, J. M. [coord.]. Comentários ao código civil brasileiro. v. I - Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 221/222)
4 A propósito, confira art. 22, CC/2002 - "Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador".
5 Art. 3º, CC/2002 - "São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I - os menores de 16 (dezesseis) anos; II - os que, por enfermidade ou doença mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade".
6 Art. 4º CC/2002 - "São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: I - os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos; II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham discernimento reduzido; III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; IV - os pródigos".
7 Art. 1º, CC/2002 - "Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil".
8 Às pessoas jurídicas, a capacidade de direito é outorgada apenas se elas preencherem todos os requisitos indispensáveis à sua constituição válida e regular.
9 ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Teoria geral da relação jurídica. v. I. Coimbra: Almedina, 1983, p. 32.
10 CARVALHO SANTOS, J.M.. Código civil brasileiro interpretado. v. I - Introdução e Parte Geral. 8.ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1958, p. 260.
11 RODRIGUES, Rafael Garcia. A pessoa e o ser humano no novo Código Civil. In: TEPEDINO, Gustavo [coord.]. A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva constitucional. Rio de Janeiro: 2002, p. 14.
12 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. v. I. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, n. 167, p. 168. No mesmo sentido, são também as lições de SILVIO RODRIGUES: "O legislador, ao arrolar entre os incapazes referidas pessoas, procura protegê-las. Partindo de que ao menor falta a maturidade necessária para julgar de seu próprio interesse, ao amental falta o tirocínio para decidir o que lhe convém ou não, ao pródigo ou ao sílvícola falta o senso preciso para defender seu patrimônio, o legislador inclui todos esses indivíduos na classe dos incapazes, a fim de submetê-los a um regime legal privilegiado, capaz de preservar seus interesses" (Direito Civil. Parte Geral. 32.ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 39/40. Apud RODRIGUES, Rafael Garcia. A pessoa e o ser humano no novo Código Civil. In: TEPEDINO, Gustavo [coord.]. A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva constitucional. Rio de Janeiro: 2002, p. 14/15).
13 MOTA PINTO, Carlos Alberto da. Teoria geral do direito civil. 3.ed., actual. Coimbra: Coimbra Editora, 1986, p. 260. Outro não é o entendimento de MENEZES CORDEIRO: "Em termos correntes, uma pessoa se diz ausente quando não esteja onde seria de esperar vê-la. Em termos técnico-jurídicos, a 'ausência' tem, todavia, um sentido mais preciso, implicando um desaparecimento prolongado e sem notícias" (MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil português. v. I, t. III - Pessoas. Coimbra: Almedina, 2004, p. 369). PONTES DE MIRANDA, por sua vez, inclui como requisito para a caracterização da ausência a existência de 'bens em desamparo', nos seguintes termos: "Ausente, no sentido em que se toma, legalmente, o vocábulo, é a pessoa de que se ignora o domicílio, dela não se tendo notícias, e cujos bens ficaram em desamparo. Para que bens em desuso, ou aparentemente sem dono, se reputem bens de ausentes, é necessário que do proprietário não se tenha notícia, nem haja êsse deixado representante, ou procurador, a quem toque administrá-los (art. 463), ou que, deixando mandatário, êsse não queira, ou não possa exercer ou continuar o mandato" (Tratado de direito privado. Parte Especial, t. IX - Direito de Família. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, § 1.050, p. 373).
14 CARVALHO SANTOS, J. M.. Código civil brasileiro interpretado. v. VI - Direito de Família. 7.ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1958, p. 454.
15 Art. 24, CC/2002 - "O juiz, que nomear o curador, fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando, no que for aplicável, o disposto a respeito dos tutores e curadores".
16 Art. 465, CC/1916 - "O juiz, que nomear o curador, fixar-lhe-á os poderes e obrigações, conforme as circunstâncias, observando, no que for aplicável, o disposto a respeito dos tutores e curadores".
17 CARVALHO SANTOS, J. M.. Código civil brasileiro interpretado. v. VI - Direito de Família. 7.ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1958, p. 454.
18 LOTUFO, Renan. Código civil comentado. v. I - Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 19.
19 E aqui, vale a ressalva, que, muito embora não existam estatísticas regulares a respeito, há notícia de que cerca de 200.000 (duzentas mil) pessoas desaparecem todos os anos no Brasil, em diferentes situações. Os dados, fruto de pesquisa realizada em 1999, pela ONG "Movimento Nacional de Direitos Humanos", com apoio do Ministério da Justiça, estão revelados no livro "Cadê você?", e demonstram que os problemas decorrentes da ausência são mais comuns do que se imagina. É que para além dos impactos financeiros-econômicos, existem outros, de ordem sucessória e familiar que devem ser solucionados. A propósito das estatísticas, cf. http://www.maesdase.org.br/layout.php?pagina=panorama. Acesso em 21/09/2008.
20 Quanto a este aspecto e valendo-nos aqui de algumas das lições do Prof. Dr. José Lorente Acosta, membro do Projeto Fênix, da Universidade de Granada, na Espanha, no ensaio Banco de Dados de DNA de Pessoas Desaparecidas, os casos de desaparecimento podem ser classificados em quatro tipos fundamentais: (i) pessoas que desaparecem e que, depois de algum tempo, são encontradas ou retornam para seus lares, que é o que ocorre na grande maioria das situações; (II) pessoas que desaparecem e que nunca mais são encontradas, porque estão mortas e ainda não foram identificadas; (III) pessoas que desaparecem e que não são encontradas, mas estão vivas e, de algum modo, impossibilitadas ou impedidas de retornarem aos seus lares; e (IV) pessoas que desaparecem e que não são encontradas, que estão vivas, podem retornar aos seus lares se quiserem, mas por alguma razão não o fazem. In: http://www.labdnaforense.org/bd/oquee.php. Acesso em 21/09/2008.
21 Que vão desde problemas psicológicos que fazem com que a pessoa perca o senso de direção e consiga voltar para a casa, até o emprego de violência (seqüestros, envolvimento com tráfico de drogas, de mulheres, de crianças, de trabalhadores, de órgãos), passando por envolvimentos amorosos, dívidas negociais, busca por aventura e diversão, além de toda sorte de outras razões de ordem íntima que podem levá-la a romper com sua vida anterior.
Suzana Santi Cremasco é membro do IBDFAM , graduada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais. Advogada. Professora Substituta do Departamento de Direito e Processo Civil e Comercial da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora de Cursos de Especialização.
Os artigos assinados aqui publicados são inteiramente de responsabilidade de seus autores e não expressam posicionamento institucional do IBDFAM