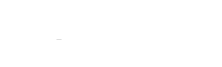Artigos
Do nome da mulher casada: Direito de Família e Direitos da Personalidade
O nome da mulher casada não tem sido considerado pela legislação e doutrina nacionais e estrangeiras, com reflexos na jurisprudência, em seu aspecto primordial: o dos Direitos da Personalidade.
Nosso estudo, que remonta à Antigüidade e ao Direito Romano, demonstra que a questão do nome da mulher casada sempre esteve ligada à submissão ao poder do marido. É significativo que a palavra pater signifique “poder” – e não pai biológico. Por isso, a mulher não poderia ser paterfamilias, possibilidade estendida ao filho menor. Nomear significa exercer o poder - daí a relação clara com a obrigatoriedade de a mulher adotar o patronímico do marido, que vigorou entre nós até a Lei 6.515, de 26 de dezembro de 1977.
A possibilidade de o marido também adotar o patronímico da mulher, que decorre da igualdade consagrada na Constituição Federal de 1988 (arts. 5.º, I e 226, § 5.º) não teve repercussão prática, tendo em vista a refração que maridos têm em adotar o patronímico da mulher.
O estudo da doutrina nacional revela que, quando da separação e do divórcio, a perda do patronímico da mulher que incorporou ao de sua família de origem, o do marido, agora também patronímico dela, está sempre e ainda relacionada à culpa, sem considerar o direito à identidade, tônica primordial da questão. Nem mesmo às mulheres que se casaram antes da Lei 6.515, de 1977, no regime da obrigatoriedade da adoção do patronímico do marido, a doutrina se mostra sensível à analise do direito à identidade. O reflexo na jurisprudência é imediato, conforme estudos que fizemos nas decisões de tribunais dos diversos Estados.
A Lei n. 8.408, de 13 de fevereiro de 1992, representa um retrocesso , pois se antes dela a mulher poderia conservar o patronímico “do marido” se considerada inocente, agora não o pode, como regra, que admite três exceções. A primeira privilegia apenas a identidade profissional, revelando-se elitista. A materfamilias não tem identidade. A segunda exceção protege o interesse de filhos que teriam o patronímico muito diferente do da mãe. Seria de aferição objetiva, o que tem sido desmentido pelo exame de muitos casos concretos.
A terceira hipótese, que teria alcance mais amplo, também tem-se revelado tímida, cingindo-se, no mais das vezes à discussão de prejuízo à identidade profissional.
Propomos que a questão do nome da mulher casada, quando da separação e do divórcio, seja sempre analisada sob a ótica do direito à identidade, como direito da personalidade da mulher, já que o nome agora é dela e não “do marido”.
O art. 1.578 do novo Código Civil perfilha o que denominamos “sistema mitigado de culpa”, possibilitando ao cônjuge vencido (pressupondo que também o homem exercerá o direito de utilizar o patronímico da mulher) conservar o nome do outro cônjuge, como regra, que será excepcionada se houver três requisitos cumulativos: ser vencido na ação de separação judicial; requerimento expresso do vencedor e, ainda, não-ocorrência de evidente prejuízo para identificação ou manifesta distinção entre seu nome de família e o dos filhos havidos da união dissolvida ou dano grave reconhecido na decisão judicial.
No nosso modo de ver, o novo Código Civil, embora ainda esteja atrelado à culpa, na questão do nome da mulher, representa um avanço em relação à Lei 8.408, de 1992, pois admite a conservação do nome como regra e não como exceção. Melhor seria se tivesse previsto que a mulher ou o marido conservará o patronímico adquirido com casamento, como regra, podendo a ele renunciar se e quando não se tenha incorporado a sua identidade.
Nossa proposta, em termos de legislação constituenda, é no sentido de que o casamento não importa alteração do patronímico. Assim pensamos, pois, adotar um patronímico é um ato de amor; retirá-lo, é um ato de desamor e ódio, sustentando intermináveis polêmicas judiciais e extrajudiciais.
Como “o Direito de Família começa onde termina o amor”, nas palavras precisas e sensíveis do jurista paulista Agostinho Arruda Alvim, a conservação do patronímico da família de origem representará um ponto nevrálgico a menos a enfrentar nas intermináveis e apaixonantes discussões que sustentam a separação e o divórcio.
*Professora Associada da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Doutora e Livre-docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Autora do livro Direito de Família e Direitos da Personalidade.
Nosso estudo, que remonta à Antigüidade e ao Direito Romano, demonstra que a questão do nome da mulher casada sempre esteve ligada à submissão ao poder do marido. É significativo que a palavra pater signifique “poder” – e não pai biológico. Por isso, a mulher não poderia ser paterfamilias, possibilidade estendida ao filho menor. Nomear significa exercer o poder - daí a relação clara com a obrigatoriedade de a mulher adotar o patronímico do marido, que vigorou entre nós até a Lei 6.515, de 26 de dezembro de 1977.
A possibilidade de o marido também adotar o patronímico da mulher, que decorre da igualdade consagrada na Constituição Federal de 1988 (arts. 5.º, I e 226, § 5.º) não teve repercussão prática, tendo em vista a refração que maridos têm em adotar o patronímico da mulher.
O estudo da doutrina nacional revela que, quando da separação e do divórcio, a perda do patronímico da mulher que incorporou ao de sua família de origem, o do marido, agora também patronímico dela, está sempre e ainda relacionada à culpa, sem considerar o direito à identidade, tônica primordial da questão. Nem mesmo às mulheres que se casaram antes da Lei 6.515, de 1977, no regime da obrigatoriedade da adoção do patronímico do marido, a doutrina se mostra sensível à analise do direito à identidade. O reflexo na jurisprudência é imediato, conforme estudos que fizemos nas decisões de tribunais dos diversos Estados.
A Lei n. 8.408, de 13 de fevereiro de 1992, representa um retrocesso , pois se antes dela a mulher poderia conservar o patronímico “do marido” se considerada inocente, agora não o pode, como regra, que admite três exceções. A primeira privilegia apenas a identidade profissional, revelando-se elitista. A materfamilias não tem identidade. A segunda exceção protege o interesse de filhos que teriam o patronímico muito diferente do da mãe. Seria de aferição objetiva, o que tem sido desmentido pelo exame de muitos casos concretos.
A terceira hipótese, que teria alcance mais amplo, também tem-se revelado tímida, cingindo-se, no mais das vezes à discussão de prejuízo à identidade profissional.
Propomos que a questão do nome da mulher casada, quando da separação e do divórcio, seja sempre analisada sob a ótica do direito à identidade, como direito da personalidade da mulher, já que o nome agora é dela e não “do marido”.
O art. 1.578 do novo Código Civil perfilha o que denominamos “sistema mitigado de culpa”, possibilitando ao cônjuge vencido (pressupondo que também o homem exercerá o direito de utilizar o patronímico da mulher) conservar o nome do outro cônjuge, como regra, que será excepcionada se houver três requisitos cumulativos: ser vencido na ação de separação judicial; requerimento expresso do vencedor e, ainda, não-ocorrência de evidente prejuízo para identificação ou manifesta distinção entre seu nome de família e o dos filhos havidos da união dissolvida ou dano grave reconhecido na decisão judicial.
No nosso modo de ver, o novo Código Civil, embora ainda esteja atrelado à culpa, na questão do nome da mulher, representa um avanço em relação à Lei 8.408, de 1992, pois admite a conservação do nome como regra e não como exceção. Melhor seria se tivesse previsto que a mulher ou o marido conservará o patronímico adquirido com casamento, como regra, podendo a ele renunciar se e quando não se tenha incorporado a sua identidade.
Nossa proposta, em termos de legislação constituenda, é no sentido de que o casamento não importa alteração do patronímico. Assim pensamos, pois, adotar um patronímico é um ato de amor; retirá-lo, é um ato de desamor e ódio, sustentando intermináveis polêmicas judiciais e extrajudiciais.
Como “o Direito de Família começa onde termina o amor”, nas palavras precisas e sensíveis do jurista paulista Agostinho Arruda Alvim, a conservação do patronímico da família de origem representará um ponto nevrálgico a menos a enfrentar nas intermináveis e apaixonantes discussões que sustentam a separação e o divórcio.
*Professora Associada da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Doutora e Livre-docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Autora do livro Direito de Família e Direitos da Personalidade.
Os artigos assinados aqui publicados são inteiramente de responsabilidade de seus autores e não expressam posicionamento institucional do IBDFAM