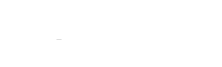Artigos
Relacionamento interfamilial
A história começou há 4,5 milhões de anos, quando os primeiros hominídeos desceram das árvores. Pela mitologia bíblica, Adão e Eva se deleitaram com a maçã e experimentaram o constrangimento de tê-la provado. Os ancestrais religiosos perderam a inocência e nunca mais foram os mesmos.
Na Ilíada, os problemas conjugais de Helena e Menelau deflagraram dez anos de uma guerra de verdade, a de Tróia. Num outro relato grego, Medéia, possuída por um ciúme incontrolável, na dor de ter sido trocada por outra mulher, matou os próprios filhos. Achava que assim punia Jasão, o marido infiel. Adão e Eva, Helena e Menelau, Medéia e Jasão: o que não falta são mitos sobre a complicação que é a convivência entre homens e mulheres.(1)
O relacionamento amoroso, sem dúvida, é um fato social que tem merecido diversificado estudo, sendo a multidisciplinaridade uma característica notável nesta busca incessante de conhecer o vínculo. Certamente que existe uma vasta bibliografia sobre o tema, variando desde a hermética seriedade dos compêndios da Psicologia científica até os manuais de conquista e preservação do ente amado.
Na seara jurígena, a regulamentação do relacionamento familial enfocou as demandas afetivas como valores sobremaneira tutelados pelo Direito Positivo. A Constituição Federal de 1988, no Capítulo VII, traduz a ampla preocupação do legislador na conformação do afeto como objetivos fundamentais dos núcleos de convivência interpessoal, estimulando a mútua assistência no parentesco e na conjugalidade. Aliás, já se diz que muitos dispositivos magnos embutem a consagração de um direito constitucional de ser feliz.(2)
Entrementes, no ambiente favorável de uma legislação abolicionista de preconceitos, desigualdades e discriminações, ainda assim vicejam os conflitos e proliferam os dissídios entre homem e mulher e pais e filhos, exteriorizando-se na violência doméstica, no abandono material, na ruptura de compromissos e na incessante necessidade da intervenção judicial para a minimização dos confrontos. Em que aspecto reside, então, a dificuldade para a subsistência dos laços de afetividade?
Não parece haver dúvida que o poderio exercido pela ilusão de que as perspectivas prazerosas do relacionamento amoroso e a poética auréola de uma perpetuação existencial imaginada na prole dominam os vínculos firmados no suposto de uma higidez perene. Assim, desarmamo-nos para o enfrentamento das reações ambivalentes (tolerância, ira, recompensa, frustração) que imantam naturalmente a intimidade, o que conduz à incapacidade de lidar racionalmente com problemas do cotidiano e insere no convívio ingredientes intoxicantes.
De fato, o objetivo de ser feliz a qualquer custo é um paradoxo que vai de encontro a toda e qualquer consideração sensata da realidade. Se aspirar à felicidade significa dar corpo a um impulso vital e positivo, pensar que se pode alcançá-la de maneira permanente é uma coisa completamente diferente. (3)
O Direito de Família codificado e mesmo em fase de crescente constitucionalização deve considerar, portanto, na sua aplicação, os intensos paroxismos das turbações emocionais do indivíduo, incorporando elementos que permitam um maior conhecimento do psiquismo, em prol da efetividade dos objetivos de solidariedade, reciprocidade e comunhão reverenciados na legislação. Isso porque o projeto parental, matrimonializado ou não, formal ou informal, livre ou regulamentado, instaura-se sob a construção de uma história a quatro mãos, uma viagem de possibilidades e edificação afetiva. Na decolagem jurídica há uma vínculo formador, originário ou superveniente. A vida em comum não passa despercebida da lente do Direito, que dela trata como um plano minucioso de preparação para esse vôo. Espaço plural do existir humano, fomento de aspirações, protagonista de um projeto parental de esperança possível. Eis uma dimensão possível e renovada das uniões. (4)
A grande tarefa desse novo tempo é a de transmutar os fundamentos axiológicos rigidamente normativos - que ontem norteavam o Direito de Família - em critérios interpretativos humanizados pela certeza de que o sentimento pertence à contextura do modelo familial desejado. E que a família nuclear (que é um verdadeiro estado de espírito, antes que uma estrutura, distribuição e arranjo de casa, ou de diagrama de relações de parentesco, composto pela mãe, pai e filhos) distingue-se de todos os outros padrões familiares pelo sentido muito peculiar de solidariedade que une entre si os membros da unidade doméstica, ao mesmo tempo que os separa do resto da coletividade.
Os membros da família nuclear têm um aguçado sentimento de viver num clima afetivo privilegiado que os protege contra qualquer intrusão, isolando-os atrás do muro da privacidade .(5)
O suporte emocional do indivíduo através da ambiência familiar não se exterioriza mais, nos dias que correm, apenas na tutela formal dos integrantes aglutinados, posto exigir doravante a afirmação da importância jurídica do afeto como expressão da dignidade da pessoa humana.
*Procurador de Justiça em Minas Gerais.
Na Ilíada, os problemas conjugais de Helena e Menelau deflagraram dez anos de uma guerra de verdade, a de Tróia. Num outro relato grego, Medéia, possuída por um ciúme incontrolável, na dor de ter sido trocada por outra mulher, matou os próprios filhos. Achava que assim punia Jasão, o marido infiel. Adão e Eva, Helena e Menelau, Medéia e Jasão: o que não falta são mitos sobre a complicação que é a convivência entre homens e mulheres.(1)
O relacionamento amoroso, sem dúvida, é um fato social que tem merecido diversificado estudo, sendo a multidisciplinaridade uma característica notável nesta busca incessante de conhecer o vínculo. Certamente que existe uma vasta bibliografia sobre o tema, variando desde a hermética seriedade dos compêndios da Psicologia científica até os manuais de conquista e preservação do ente amado.
Na seara jurígena, a regulamentação do relacionamento familial enfocou as demandas afetivas como valores sobremaneira tutelados pelo Direito Positivo. A Constituição Federal de 1988, no Capítulo VII, traduz a ampla preocupação do legislador na conformação do afeto como objetivos fundamentais dos núcleos de convivência interpessoal, estimulando a mútua assistência no parentesco e na conjugalidade. Aliás, já se diz que muitos dispositivos magnos embutem a consagração de um direito constitucional de ser feliz.(2)
Entrementes, no ambiente favorável de uma legislação abolicionista de preconceitos, desigualdades e discriminações, ainda assim vicejam os conflitos e proliferam os dissídios entre homem e mulher e pais e filhos, exteriorizando-se na violência doméstica, no abandono material, na ruptura de compromissos e na incessante necessidade da intervenção judicial para a minimização dos confrontos. Em que aspecto reside, então, a dificuldade para a subsistência dos laços de afetividade?
Não parece haver dúvida que o poderio exercido pela ilusão de que as perspectivas prazerosas do relacionamento amoroso e a poética auréola de uma perpetuação existencial imaginada na prole dominam os vínculos firmados no suposto de uma higidez perene. Assim, desarmamo-nos para o enfrentamento das reações ambivalentes (tolerância, ira, recompensa, frustração) que imantam naturalmente a intimidade, o que conduz à incapacidade de lidar racionalmente com problemas do cotidiano e insere no convívio ingredientes intoxicantes.
De fato, o objetivo de ser feliz a qualquer custo é um paradoxo que vai de encontro a toda e qualquer consideração sensata da realidade. Se aspirar à felicidade significa dar corpo a um impulso vital e positivo, pensar que se pode alcançá-la de maneira permanente é uma coisa completamente diferente. (3)
O Direito de Família codificado e mesmo em fase de crescente constitucionalização deve considerar, portanto, na sua aplicação, os intensos paroxismos das turbações emocionais do indivíduo, incorporando elementos que permitam um maior conhecimento do psiquismo, em prol da efetividade dos objetivos de solidariedade, reciprocidade e comunhão reverenciados na legislação. Isso porque o projeto parental, matrimonializado ou não, formal ou informal, livre ou regulamentado, instaura-se sob a construção de uma história a quatro mãos, uma viagem de possibilidades e edificação afetiva. Na decolagem jurídica há uma vínculo formador, originário ou superveniente. A vida em comum não passa despercebida da lente do Direito, que dela trata como um plano minucioso de preparação para esse vôo. Espaço plural do existir humano, fomento de aspirações, protagonista de um projeto parental de esperança possível. Eis uma dimensão possível e renovada das uniões. (4)
A grande tarefa desse novo tempo é a de transmutar os fundamentos axiológicos rigidamente normativos - que ontem norteavam o Direito de Família - em critérios interpretativos humanizados pela certeza de que o sentimento pertence à contextura do modelo familial desejado. E que a família nuclear (que é um verdadeiro estado de espírito, antes que uma estrutura, distribuição e arranjo de casa, ou de diagrama de relações de parentesco, composto pela mãe, pai e filhos) distingue-se de todos os outros padrões familiares pelo sentido muito peculiar de solidariedade que une entre si os membros da unidade doméstica, ao mesmo tempo que os separa do resto da coletividade.
Os membros da família nuclear têm um aguçado sentimento de viver num clima afetivo privilegiado que os protege contra qualquer intrusão, isolando-os atrás do muro da privacidade .(5)
O suporte emocional do indivíduo através da ambiência familiar não se exterioriza mais, nos dias que correm, apenas na tutela formal dos integrantes aglutinados, posto exigir doravante a afirmação da importância jurídica do afeto como expressão da dignidade da pessoa humana.
*Procurador de Justiça em Minas Gerais.
1. LUNA, Fernando. A luta continua!. Veja, , ano 32, n. 1, edição 1.579, 6 jan. 1999.
2. MARTINS, Fernando Rodrigues. Controle do patrimônio público. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 166.
3. GIUSTI, Edoardo. A arte de separar-se. Trad. Raffaella de Fillipis. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1987, p. 26.
4. FACHIN, Luiz Edson. Elementos críticos do direito de família. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 59.
5. LEITE, Eduardo de Oliveira. Temas de direito de família. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 19.
Referência: Revista Especial Del Rey IBDFAM - Maio 2002
Os artigos assinados aqui publicados são inteiramente de responsabilidade de seus autores e não expressam posicionamento institucional do IBDFAM