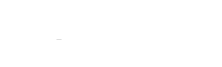Artigos
Família no Direito Previdenciário: uma visão geral
A Constituição Federal de 1988 deu especial tratamento ao tema Família e Seguridade Social. Nesse sentido, revela-se a especial proteção que o Poder Público deve prestar às novas famílias — companheiril, monoparental e assistencial —,sem contudo perder de vista a tutela da família matrimonial.
O objetivo central deste ensaio será, em breves linhas, contextualizar a legislação previdenciária do Regime Geral de Previdência Social às novas famílias, com ênfase nos fundamentos da solidariedade e necessidade instituídos pelo imperativo legal.
De se notar que, segundo a exegese do artigo 226, caput, da CF/88, essencial se faz implementar decisivamente os princípios, valores e regras constitucionais pertinentes à família jurídica, objetivando delimitar os dependentes dos segurados, e portanto beneficiários de prestações previdenciárias.
Acerca do Regime Geral de Previdência Social, imagine a hipótese do segurado casado encontrar-se separado de fato, e constituir nova família, sendo esta fundada no companheirismo: sua companheira ficaria privada de qualquer prestação previdenciária? Evidente que não. Desde que constatado o vínculo familiar entre o segurado e seu parceiro, filho ou assistido, inequívoca é a condição de dependente do familiar. Do contrário, a regra de especial proteção do Estado em favor da família constitucional não estaria sendo cumprida.
O cônjuge e o companheiro são dependentes econômicos presumidos, diante do dever recíproco entre seus respectivos parceiros de assistência material (ou de socorro), nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, daí a razão da desnecessidade de demonstrar a efetiva dependência econômica em relação ao segurado/funcionário.
Nos termos da Carta, diante da impossibilidade de se distinguir entre homem e mulher, inclusive quanto aos direitos e deveres decorrentes do casamento e do companheirismo, em obediência ao princípio de igualdade entre sexos, não há mais qualquer possibilidade de se atribuir direito securitário apenas à esposa, e não ao marido, ou apenas à companheira, e não ao consorte. Qualquer tratamento diferenciado, em relação aos cônjuges e companheiros varão e varoa, é discriminatório, ilegítimo, devendo ser reconhecido como inconstitucional. Esta é a razão, inclusive, pela qual o artigo 201, inciso V, da Constituição Federal, ao cuidar da pensão por morte do segurado, no Regime Geral da Previdência Social, prevê a indistinção do sexo do segurado - homem ou mulher - para fins de atribuição do direito ao pensionamento em favor do cônjuge e companheiro sobreviventes.
Nos casos de invalidação do casamento, separação judicial ou divórcio, deixa de existir o estado civil de casados entre os ex-cônjuges, razão pela qual o ex-cônjuge perderá a condição de dependente securitário. Há que ser ressalvado, no entanto, um dos efeitos possíveis da dissolução da sociedade conjugal entre os ex-cônjuges que é a fixação de alimentos em favor de um deles. Mais uma vez, prepondera o binômio: solidariedade e necessidade. Desse modo, uma vez estabelecida a obrigação alimentar, em razão da dissolução da sociedade conjugal em vida dos ex-cônjuges, obrigatoriamente deverá ser atribuída pensão securitária em favor do dependente ex-cônjuge diante da ocorrência da morte do segurado. Esta é a razão da previsão do cônjuge divorciado ou separado judicialmente que recebia pensão de alimentos, no artigo 76, § 2º, da Lei nº 8.213/91, como titulares de pensão em virtude da morte do segurado.
Há, ainda, a questão envolvendo a separação de fato do casal. Ou seja: apesar de formalmente o segurado/funcionário ainda preservar o estado civil de casado, não há mais o casamento de fato. É imprescindível que se proceda à releitura de várias normas da Lei nº 6.515/77 e da legislação em matéria de Seguridade Social à luz da Constituição de 1988. Uma vez configurada a separação de fato, e não tendo sido estabelecida a obrigação alimentar em vida, a hipótese é de cessação da condição de dependente do cônjuge do segurado, o que repercute na negativa do direito à pensão securitária.
Pode ocorrer, por exemplo, de durante a separação de fato do casal o homem casado passar a constituir nova união, necessariamente informal, com outra mulher, e a situação vir a configurar o companheirismo. Assim, surgiu nova família na posição jurídica de tal pessoa ainda formalmente casada, mas separada de fato. Na eventualidade de sua morte, deve-se reconhecer a pensão apenas em favor da companheira, e não da esposa.
É fundamental que se reconheça que a condição de dependente securitário do cônjuge deixou de existir no contexto da separação de fato, sob condição suspensiva da dissolução da sociedade conjugal (por morte, separação judicial, divórcio ou mesmo invalidação do casamento). Trata-se de reler a normativa infraconstitucional, em especial as Leis nºs. 6.515/77, 5.774/71, 6.880/80, 8.112/90 e 8.213/91, à luz dos novos princípios e valores constitucionais.
Atualmente, no Regime Geral da Previdência Social, o § 3º, do artigo 16, da Lei nº 8.213/91 observa que a noção de companheiros é aquela contida no art. 226, § 3.º, da Constituição Federal, mas expressamente exclui a possibilidade do dependente ter o estado civil de casado (evidentemente com terceira pessoa que não seu companheiro).
Tal regra deve ser interpretada no sentido de não se admitir o concubinato para efeito de reconhecimento de direito a benefício previdenciário ou acidentário, e não de excluir qualquer uma das hipóteses de companheirismo, inclusive a da pessoa casada, mas separada de fato por prazo de dois anos ou mais, e que já esteja neste período mantendo relação fundada no companheirismo. Caso não seja alcançada tal interpretação, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da expressão “sem ser casada”.
E, atualmente, como deve ser tratado o companheirismo em matéria de Seguridade Social? Exatamente igual ao casamento, diante do preceito contido no artigo 226, caput, da Constituição Federal, que determina a especial proteção do Estado, inclusive e principalmente no campo securitário, à família constitucional, abrangendo, assim, as uniões fundadas no companheirismo. Afigura-se, desse modo, inconstitucional a disposição contida no artigo 16, § 6º, do Decreto nº 3.048/99, ao restringir o companheirismo apenas às pessoas solteiras, separadas judicialmente, divorciadas ou viúvas, porquanto a Constituição não restringe o estado civil dos companheiros.
Crianças e Adolescentes
Acerca das famílias parentais, o disposto no artigo 226, caput, é perfeitamente aplicável, não sendo possível, assim, que os filhos menores ou inválidos sejam excluídos dos benefícios da Seguridade Social. Nos termos do artigo 201, incisos IV e V, da Constituição Federal, no campo do Regime Geral de Previdência Social, tais filhos se inserem na condição de dependentes do segurado, em perfeita consonância com a regra protetiva.
Em matéria envolvendo os direitos fundamentais da criança e do adolescente - e, obviamente, nesse contexto, se encontram os filhos menores -, o artigo 227, caput, da Constituição Federal, acolheu expressamente a doutrina da proteção integral. O artigo 227, § 6º, da CF/88, ao estatuir a igualdade absoluta entre os filhos, não permite mais qualquer privilégio ou benefício a qualquer um dos filhos.
Antigamente, por exemplo, o filho resultante de relação incestuosa entre pai e filha, por exemplo, somente poderia ser reconhecido por um deles. Não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988 as regras anteriores que distinguiam a prole do sexo feminino daquela do sexo masculino, em razão de duas regras claras: a) igualdade de direitos e deveres entre homem e mulher (artigo 5º, inciso I, do texto); b) igualdade de direitos e qualificações entre filhos, independentemente do sexo (artigo 227, § 6º, do texto).
Assim, por exemplo, a regra contida no artigo 77, “b”, da Lei nº 5.774/71, ao estabelecer como beneficiários da pensão militar os filhos de qualquer condição, exclusive os maiores do sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos, é frontalmente incompatível com os princípios constitucionais de igualdade entre os sexos, e igualdade entre os filhos, não tendo sido recepcionada a discriminação.
Diante do comando constitucional contido no artigo 226, caput, da Constituição Federal, além das famílias matrimonial, companheiril e parental, a família assistencial também merece ser protegida, em especial na pessoa da criança ou do adolescente, com base no , caput, do artigo 227, e § 3º, inciso VI, também do texto constitucional.
Os deveres do Estado de ministrar especial proteção à família, nos termos do artigo 226, , caput, e de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à dignidade, ao respeito e à liberdade, com base no artigo 227, , caput, conjugados com o dever do Estado de estimular o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente, órfão ou abandonado, com fulcro no artigo 227, § 3º, inciso VI, impõem ao Poder Público a inserção dos menores sob tutela e guarda no âmbito da Seguridade Social na condição de dependentes do segurado.
Contudo, a condição de dependente do menor sob guarda ou tutela, relativamente ao segurado, não lhe equipara ao filho, motivo pelo qual é perfeitamente legítimo e constitucional, por exemplo, que o menor sob guarda ou tutela seja inserido em classe distinta daquela relativa ao filho, na ordem de vocação securitária. O que não se afigura constitucional e legítimo, na ordem jurídico-constitucional pós-1988, é a exclusão de tais crianças e adolescentes do âmbito de proteção social via Seguridade Social.
Na atual redação do § 2º, do artigo 16, da Lei nº 8.213/91, foram preservadas as referências aos menores sob tutela e enteados do segurado na condição de equiparados aos filhos como dependentes, no Regime Geral da Previdência Social, sendo excluídas as crianças ou adolescentes sob guarda. Ora, os enteados mantêm vínculo de afinidade com o segurado, e, nesse contexto, integram a família em sentido mais amplo do que a noção de família nuclear e, na condição de afins, não são mencionados no texto constitucional para fins de proteção estatal. Assim, afigura-se contraditório e desarrazoado que a criança ou adolescente sob guarda seja excluído da proteção estatal, em contrariedade à regra constante do artigo 226, caput, da Constituição Federal, ao passo que o enteado seja mantido sob o manto de proteção do Regime Geral da Previdência Social.
Com efeito, a guarda e a tutela são dois institutos expressamente previstos no ECA como viabilizadores da constituição e manutenção de família substituta, com diferentes requisitos e efeitos. Contudo, para os fins assistenciais, inexiste diferença entre tais institutos, já que ambos visam a atender os interesses da criança e do adolescente, em especial aqueles relacionados ao resguardo dos seus direitos fundamentais, como a vida, a liberdade, a dignidade, a convivência familiar, entre outros.
Ora, desse modo, em matéria de especial proteção que o Estado deve dar à família assistencial , e, principalmente, na pessoa da criança ou do adolescente, houve equiparação entre os dois institutos. Assim, ambos devem ser inseridos no contexto dos Regimes de Previdência Social, como fez corretamente a Lei nº 8.112/90, e, originariamente, havia feito a Lei nº 8.213/91.
Merecem reflexão e registro: o reconhecimento da eficácia plena da norma constitucional contida no art. 226, , caput, da CRFB, com a necessária e obrigatória proteção do Estado a toda e qualquer espécie de família constitucional, permitindo a adequação dos atos normativos anteriores à Constituição de 1988, e o juízo de inconstitucionalidade dos atos normativos ou posturas estatais contrárias ao princípio protetivo assegurado constitucionalmente.
Aguarde-se, desse modo, que em um futuro não muito distante, possamos afirmar que o Direito brasileiro, em atenção à realidade da vida, apresente um tratamento condigno, razoável e adequado ao tema Família e Direito Securitário, implementando os valores e princípios constitucionais insculpidos no texto constitucional de 1988.
(novembro 2001)
(*) Professor-Assistente de Direito Civil na Faculdade de Direito da UERJ. Mestre e Doutorando em Direito pela UERJ. Juiz Federal no Rio de Janeiro
O objetivo central deste ensaio será, em breves linhas, contextualizar a legislação previdenciária do Regime Geral de Previdência Social às novas famílias, com ênfase nos fundamentos da solidariedade e necessidade instituídos pelo imperativo legal.
De se notar que, segundo a exegese do artigo 226, caput, da CF/88, essencial se faz implementar decisivamente os princípios, valores e regras constitucionais pertinentes à família jurídica, objetivando delimitar os dependentes dos segurados, e portanto beneficiários de prestações previdenciárias.
Acerca do Regime Geral de Previdência Social, imagine a hipótese do segurado casado encontrar-se separado de fato, e constituir nova família, sendo esta fundada no companheirismo: sua companheira ficaria privada de qualquer prestação previdenciária? Evidente que não. Desde que constatado o vínculo familiar entre o segurado e seu parceiro, filho ou assistido, inequívoca é a condição de dependente do familiar. Do contrário, a regra de especial proteção do Estado em favor da família constitucional não estaria sendo cumprida.
O cônjuge e o companheiro são dependentes econômicos presumidos, diante do dever recíproco entre seus respectivos parceiros de assistência material (ou de socorro), nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, daí a razão da desnecessidade de demonstrar a efetiva dependência econômica em relação ao segurado/funcionário.
Nos termos da Carta, diante da impossibilidade de se distinguir entre homem e mulher, inclusive quanto aos direitos e deveres decorrentes do casamento e do companheirismo, em obediência ao princípio de igualdade entre sexos, não há mais qualquer possibilidade de se atribuir direito securitário apenas à esposa, e não ao marido, ou apenas à companheira, e não ao consorte. Qualquer tratamento diferenciado, em relação aos cônjuges e companheiros varão e varoa, é discriminatório, ilegítimo, devendo ser reconhecido como inconstitucional. Esta é a razão, inclusive, pela qual o artigo 201, inciso V, da Constituição Federal, ao cuidar da pensão por morte do segurado, no Regime Geral da Previdência Social, prevê a indistinção do sexo do segurado - homem ou mulher - para fins de atribuição do direito ao pensionamento em favor do cônjuge e companheiro sobreviventes.
Nos casos de invalidação do casamento, separação judicial ou divórcio, deixa de existir o estado civil de casados entre os ex-cônjuges, razão pela qual o ex-cônjuge perderá a condição de dependente securitário. Há que ser ressalvado, no entanto, um dos efeitos possíveis da dissolução da sociedade conjugal entre os ex-cônjuges que é a fixação de alimentos em favor de um deles. Mais uma vez, prepondera o binômio: solidariedade e necessidade. Desse modo, uma vez estabelecida a obrigação alimentar, em razão da dissolução da sociedade conjugal em vida dos ex-cônjuges, obrigatoriamente deverá ser atribuída pensão securitária em favor do dependente ex-cônjuge diante da ocorrência da morte do segurado. Esta é a razão da previsão do cônjuge divorciado ou separado judicialmente que recebia pensão de alimentos, no artigo 76, § 2º, da Lei nº 8.213/91, como titulares de pensão em virtude da morte do segurado.
Há, ainda, a questão envolvendo a separação de fato do casal. Ou seja: apesar de formalmente o segurado/funcionário ainda preservar o estado civil de casado, não há mais o casamento de fato. É imprescindível que se proceda à releitura de várias normas da Lei nº 6.515/77 e da legislação em matéria de Seguridade Social à luz da Constituição de 1988. Uma vez configurada a separação de fato, e não tendo sido estabelecida a obrigação alimentar em vida, a hipótese é de cessação da condição de dependente do cônjuge do segurado, o que repercute na negativa do direito à pensão securitária.
Pode ocorrer, por exemplo, de durante a separação de fato do casal o homem casado passar a constituir nova união, necessariamente informal, com outra mulher, e a situação vir a configurar o companheirismo. Assim, surgiu nova família na posição jurídica de tal pessoa ainda formalmente casada, mas separada de fato. Na eventualidade de sua morte, deve-se reconhecer a pensão apenas em favor da companheira, e não da esposa.
É fundamental que se reconheça que a condição de dependente securitário do cônjuge deixou de existir no contexto da separação de fato, sob condição suspensiva da dissolução da sociedade conjugal (por morte, separação judicial, divórcio ou mesmo invalidação do casamento). Trata-se de reler a normativa infraconstitucional, em especial as Leis nºs. 6.515/77, 5.774/71, 6.880/80, 8.112/90 e 8.213/91, à luz dos novos princípios e valores constitucionais.
Atualmente, no Regime Geral da Previdência Social, o § 3º, do artigo 16, da Lei nº 8.213/91 observa que a noção de companheiros é aquela contida no art. 226, § 3.º, da Constituição Federal, mas expressamente exclui a possibilidade do dependente ter o estado civil de casado (evidentemente com terceira pessoa que não seu companheiro).
Tal regra deve ser interpretada no sentido de não se admitir o concubinato para efeito de reconhecimento de direito a benefício previdenciário ou acidentário, e não de excluir qualquer uma das hipóteses de companheirismo, inclusive a da pessoa casada, mas separada de fato por prazo de dois anos ou mais, e que já esteja neste período mantendo relação fundada no companheirismo. Caso não seja alcançada tal interpretação, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da expressão “sem ser casada”.
E, atualmente, como deve ser tratado o companheirismo em matéria de Seguridade Social? Exatamente igual ao casamento, diante do preceito contido no artigo 226, caput, da Constituição Federal, que determina a especial proteção do Estado, inclusive e principalmente no campo securitário, à família constitucional, abrangendo, assim, as uniões fundadas no companheirismo. Afigura-se, desse modo, inconstitucional a disposição contida no artigo 16, § 6º, do Decreto nº 3.048/99, ao restringir o companheirismo apenas às pessoas solteiras, separadas judicialmente, divorciadas ou viúvas, porquanto a Constituição não restringe o estado civil dos companheiros.
Crianças e Adolescentes
Acerca das famílias parentais, o disposto no artigo 226, caput, é perfeitamente aplicável, não sendo possível, assim, que os filhos menores ou inválidos sejam excluídos dos benefícios da Seguridade Social. Nos termos do artigo 201, incisos IV e V, da Constituição Federal, no campo do Regime Geral de Previdência Social, tais filhos se inserem na condição de dependentes do segurado, em perfeita consonância com a regra protetiva.
Em matéria envolvendo os direitos fundamentais da criança e do adolescente - e, obviamente, nesse contexto, se encontram os filhos menores -, o artigo 227, caput, da Constituição Federal, acolheu expressamente a doutrina da proteção integral. O artigo 227, § 6º, da CF/88, ao estatuir a igualdade absoluta entre os filhos, não permite mais qualquer privilégio ou benefício a qualquer um dos filhos.
Antigamente, por exemplo, o filho resultante de relação incestuosa entre pai e filha, por exemplo, somente poderia ser reconhecido por um deles. Não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988 as regras anteriores que distinguiam a prole do sexo feminino daquela do sexo masculino, em razão de duas regras claras: a) igualdade de direitos e deveres entre homem e mulher (artigo 5º, inciso I, do texto); b) igualdade de direitos e qualificações entre filhos, independentemente do sexo (artigo 227, § 6º, do texto).
Assim, por exemplo, a regra contida no artigo 77, “b”, da Lei nº 5.774/71, ao estabelecer como beneficiários da pensão militar os filhos de qualquer condição, exclusive os maiores do sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos, é frontalmente incompatível com os princípios constitucionais de igualdade entre os sexos, e igualdade entre os filhos, não tendo sido recepcionada a discriminação.
Diante do comando constitucional contido no artigo 226, caput, da Constituição Federal, além das famílias matrimonial, companheiril e parental, a família assistencial também merece ser protegida, em especial na pessoa da criança ou do adolescente, com base no , caput, do artigo 227, e § 3º, inciso VI, também do texto constitucional.
Os deveres do Estado de ministrar especial proteção à família, nos termos do artigo 226, , caput, e de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à dignidade, ao respeito e à liberdade, com base no artigo 227, , caput, conjugados com o dever do Estado de estimular o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente, órfão ou abandonado, com fulcro no artigo 227, § 3º, inciso VI, impõem ao Poder Público a inserção dos menores sob tutela e guarda no âmbito da Seguridade Social na condição de dependentes do segurado.
Contudo, a condição de dependente do menor sob guarda ou tutela, relativamente ao segurado, não lhe equipara ao filho, motivo pelo qual é perfeitamente legítimo e constitucional, por exemplo, que o menor sob guarda ou tutela seja inserido em classe distinta daquela relativa ao filho, na ordem de vocação securitária. O que não se afigura constitucional e legítimo, na ordem jurídico-constitucional pós-1988, é a exclusão de tais crianças e adolescentes do âmbito de proteção social via Seguridade Social.
Na atual redação do § 2º, do artigo 16, da Lei nº 8.213/91, foram preservadas as referências aos menores sob tutela e enteados do segurado na condição de equiparados aos filhos como dependentes, no Regime Geral da Previdência Social, sendo excluídas as crianças ou adolescentes sob guarda. Ora, os enteados mantêm vínculo de afinidade com o segurado, e, nesse contexto, integram a família em sentido mais amplo do que a noção de família nuclear e, na condição de afins, não são mencionados no texto constitucional para fins de proteção estatal. Assim, afigura-se contraditório e desarrazoado que a criança ou adolescente sob guarda seja excluído da proteção estatal, em contrariedade à regra constante do artigo 226, caput, da Constituição Federal, ao passo que o enteado seja mantido sob o manto de proteção do Regime Geral da Previdência Social.
Com efeito, a guarda e a tutela são dois institutos expressamente previstos no ECA como viabilizadores da constituição e manutenção de família substituta, com diferentes requisitos e efeitos. Contudo, para os fins assistenciais, inexiste diferença entre tais institutos, já que ambos visam a atender os interesses da criança e do adolescente, em especial aqueles relacionados ao resguardo dos seus direitos fundamentais, como a vida, a liberdade, a dignidade, a convivência familiar, entre outros.
Ora, desse modo, em matéria de especial proteção que o Estado deve dar à família assistencial , e, principalmente, na pessoa da criança ou do adolescente, houve equiparação entre os dois institutos. Assim, ambos devem ser inseridos no contexto dos Regimes de Previdência Social, como fez corretamente a Lei nº 8.112/90, e, originariamente, havia feito a Lei nº 8.213/91.
Merecem reflexão e registro: o reconhecimento da eficácia plena da norma constitucional contida no art. 226, , caput, da CRFB, com a necessária e obrigatória proteção do Estado a toda e qualquer espécie de família constitucional, permitindo a adequação dos atos normativos anteriores à Constituição de 1988, e o juízo de inconstitucionalidade dos atos normativos ou posturas estatais contrárias ao princípio protetivo assegurado constitucionalmente.
Aguarde-se, desse modo, que em um futuro não muito distante, possamos afirmar que o Direito brasileiro, em atenção à realidade da vida, apresente um tratamento condigno, razoável e adequado ao tema Família e Direito Securitário, implementando os valores e princípios constitucionais insculpidos no texto constitucional de 1988.
(novembro 2001)
(*) Professor-Assistente de Direito Civil na Faculdade de Direito da UERJ. Mestre e Doutorando em Direito pela UERJ. Juiz Federal no Rio de Janeiro
Os artigos assinados aqui publicados são inteiramente de responsabilidade de seus autores e não expressam posicionamento institucional do IBDFAM