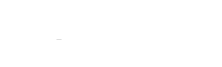Artigos
O dever de assistência afetiva
Maria Berenice Dias
Advogada
Vice Presidente Nacional do IBDFAM
É de enorme significado a recente alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente,[1] ao impor aos pais a obrigação de prestar assistência afetiva aos filhos, por meio de convívio ou visitação periódica, de modo a permitir o acompanhamento na formação psicológica, moral e social da pessoa em desenvolvimento (ECA, art. 4º, § 2º).
Essa assistência é definida como orientação quanto às principais escolhas e oportunidades profissionais, educacionais e culturais; solidariedade e apoio nos momentos de intenso sofrimento ou de dificuldade; e presença física espontaneamente solicitada pelo filho (ECA, art. 4º, § 3º).
A mudança vai além. Considera conduta ilícita, sujeita a reparação de danos, sem prejuízo de sanções outras, o abandono afetivo (ECA, art. 5º, parágrafo único).
Do mesmo modo, impõe aos pais o dever de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais no que diz com o dever de sustento, convivência, assistência material, afetiva e educação dos filhos (ECA, art. 22).
Também foi incluída a hipótese de negligência, a justificar o afastamento liminar do agressor da morada comum (ECA, art. 130).
Essas mudanças acabaram por derrogar a absurda possibilidade de um dos pais “abrir mão da guarda” do filho, por consenso ou imotivadamente (CC, art. 1.584, I e § 2º), como se fosse possível desatender a uma obrigação constitucional (CR, art. 229): Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores [...] e legal (CC art. 1634), que atribui a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar.
Ou seja, agora, a guarda unilateral, ou melhor, a custódia unilateral, só pode ser determinada judicialmente, quando comprovado que a convivência com um dos genitores não atende ao melhor interesse do filho. Ainda assim, essa determinação deve ser de forma temporária, até que o convívio seja restabelecido com acompanhamento psicossocial.
De outro lado, pelo novo regramento legal, não é mais possível que, no estabelecimento da guarda compartilhada, seja feita, exclusivamente, a divisão dos dias de convívio do filho com cada um dos pais, tal como ocorre hoje em dia. Preponderantemente, é estabelecido o lar materno como base de moradia, mesmo quando os pais residem na mesma cidade (CC, art. 1.583, § 3º), como se a lei não reconhecesse o duplo domicílio (CC, art. 71). Via de consequência é atribuído ao pai mero “direito de visitas” em fins de semana alternados e um pernoite semanal, se tanto. Claro que isso não é divisão equilibrada do tempo de convívio (CC, art. 1.583, § 2º).
Necessário atentar que a ausência de compartilhamento dos encargos parentais sobrecarrega sobremodo a mulher, que assume sozinha todos os deveres de cuidado. Além disso, acaba havendo o distanciamento do pai e consequente afrouxamento do o vínculo afetivo, o que gera no filho sentimento de abandono.
Comprovado cientificamente que a falta de convívio com ambos os genitores provoca danos, a ponto de comprometer o desenvolvimento pleno e saudável de uma criança ou adolescente, a omissão de um deles – leia-se, do pai – gera dano afetivo suscetível de ser indenizado. A negligência e o abandono constam no Código Internacional de Doenças (CID 10-Y06.1) e justificam, inclusive, a perda do poder familiar (CC, art. 1.638, II).
A possibilidade de reparação por danos, por meio da responsabilidade civil, pelo descumprimento do dever de convivência, tem origem na pioneira decisão do Superior Tribunal de Justiça que atribuiu valor jurídico ao cuidado, identificando o abandono afetivo como ilícito civil, a ensejar o dever de indenizar.[2]
No dizer de Rodrigo da Cunha Pereira – quem primeiro levou o tema à justiça –, o abandono parental é fato gerador de obrigação indenizatória das funções parentais.[3] Deve ser entendido como uma lesão extrapatrimonial a um interesse jurídico tutelado, causada por omissão do pai ou da mãe no cumprimento do exercício do poder familiar.
A ausência do cuidado e o abandono moral violam a integridade psicofísica dos filhos, bem como o princípio da solidariedade familiar. Esse tipo de violação configura dano moral.[4] E, quem causa dano, é obrigado a indenizar.
Outra consequência da imposição da assistência afetiva, é dispensar a exigência da prova do dano para impor a obrigação indenizatória. Exigência de todo descabida, eis que o dever de convívio é uma responsabilidade objetiva, cujo dano é presumido. Não há como ser exigida a prova do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, mediante a apresentação de laudo psicológico. Não é preciso comprovar a presença de dolo. E sequer é necessária a prova do dano. Basta a prova do abandono. A omissão do dever de cuidado objetivo, previsto constitucional e legalmente, caracteriza ato ilícito.[5]
Mas a jurisprudência ainda resiste: A responsabilidade civil por abandono afetivo requer prova inequívoca de ato ilícito, dano e nexo causal. A ausência de convivência, por si só, não configura abandono afetivo indenizável.[6]
A afetividade, como dever jurídico, não se confunde com a existência real do afeto, porquanto pode ser presumida quando este faltar na realidade das relações; assim, a afetividade é um dever imposto aos pais em relação aos filhos e destes em relação àqueles, ainda que haja desamor ou desafeição entre eles.[7]
O dano à dignidade humana do filho em estágio de formação deve ser passível de reparação material não apenas para que os deveres parentais deliberadamente omitidos não fiquem impunes, mas, principalmente, para que, no futuro, qualquer inclinação ao irresponsável abandono possa ser dissuadida pela firme posição do Judiciário, ao mostrar que o afeto tem um preço muito alto na nova configuração familiar.[8]
A indenização por abandono afetivo pode converter-se em instrumento de extrema relevância e importância para a configuração de um Direito das Famílias mais consentâneo com a contemporaneidade, podendo desempenhar papel pedagógico no seio das relações familiares.[9]
Que a mudança legal gere a responsabilização parental, de modo a garantir a assistência afetiva, de modo a dar efetividade ao Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero,[10] cuja obediência é obrigatória.[11]
[1] Lei 15.240/2025.
[2]. STJ – REsp 1.159.242/SP, 3.ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, p. 24/04/2012.
[3]. Rodrigo da Cunha Pereira, Responsabilidade civil por abandono afetivo, p. 5-19, Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões, ano XIII, n. 29, ago./set, Belo Horizonte: Editora IBDFAM, 2012.
[4]. Maria Celina Bodin de Moraes, Deveres parentais e responsabilidade civil, p. 39-66, Revista Brasileira de Direito de Família, n. 31, ago./set, Belo Horizonte: Editora IBDFAM, 2005.
[5]. Fábio Siebeneichler de Andrade e Gabriela Teixeira, Descumprimento de deveres..., p. 35-52, Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, n. 87, nov./dez. Porto Alegre: Editora Magister, 2018.
[6] TJSP - AC 10007115820238260106. 4ª C. Dir. Priv., Rel. Fatima Cristina Ruppert Mazzo, j. 30/10/2025.
[7]. Paulo Lôbo, Socioafetividade: o estado da arte no Direito de Família brasileiro, p. 11-23, Revista IBDFAM: Famílias e Sucessões, n. 5, edição set/out. Belo Horizonte: Editora IBDFAM, 2014.
[8]. Rolf Madaleno, Direito de Família, p. 169, 13ª ed. Rio de Janeiro: GEN/Forense, 2023.
[9]. Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, Direito civil: estudos, p. 148, Belo Horizonte: Del Rey, 2000.
[10] SNJ – Recomendação 128/2022 e Resolução 492/2023.
[11] LINDB – art. 30, parágrafo único.
Os artigos assinados aqui publicados são inteiramente de responsabilidade de seus autores e não expressam posicionamento institucional do IBDFAM