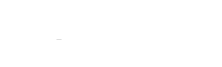Artigos
A família (não) é um arquipélago
Jones Figueirêdo Alves
Definir a família em suas acepções, arranjos ou diversidades, exige que seu(s) conceito(s) contemplem, sempre, os seus membros na formação do grupo constituido pelo casal e filhos, como modelo nuclear e tradicional (restritivo) ou por conotações expandidas em suas parentalidades (famílias extensas). De todo modo, em metáfora poética, diante dos que a integram, em seu todo ou individualmente, dir-se-á, antes de mais, que a família é um arquipélago.
A metáfora sugere que, embora os membros de uma família façam parte de um mesmo conjunto, como ilhas de um arquipélago, cada um tem sua individualidade, seu espaço, suas particularidades. Estão conectados por um fundo comum (como o mar que une as ilhas), mas não estão geminados, uns aos outros, como uma massa única.
Há compreender, de logo, a família como uma união situada na diversidade. Cada “ilha” (cada pessoa) tem sua forma, sua cultura, seu ritmo, mas todas pertencem a um mesmo arquipélago, a família. Fenômeno de autonomia e de pertencimento, a um só tempo, quando em sendo possível ser independente, ainda assim, o fazer parte de algo maior implica uma totalidade conjugada.
Certo que no arquipélago existam suas distancias geográficas entre as ilhas, cumpre refletir uma realidade em que os membros da família embora separados física ou emocionalmente, todos se unem por laços profundos e invisíveis.
Isto porque apesar das diferenças entre as ilhas, elas compartilham o mesmo solo submarino. Isso representa a origem comum, uma história de vidas, os valores e os traumas familiares que estão abaixo da superfície, sustentando tudo e todos. Pode-se viver longe, mudar, evoluir, mas a base é comum.
Cada membro da família desenvolve sua própria paisagem interna. Um pode ser uma ilha vulcânica: explosivo, mas fértil em ideias. Outro pode ser uma ilha tranquila, coberta de florestas, introspectiva. Cada um carrega suas experiências e expressa de forma diferente o que herdou, genética, cultura, afeto ou dor. Precisamente, cada ilha com sua geografia.
Urge, porém, a navegação entre as ilhas. Nem sempre é fácil transitar entre os membros da família. Às vezes, o mar está calmo, e o diálogo flui. Outras vezes, há tempestades emocionais: ressentimentos antigos, mágoas não resolvidas, silêncios dolorosos. Mas ainda assim, existe a possibilidade de atravessar. Se há esforço, há reconexão.
Mesmo que duas ilhas estejam distantes, são parte do mesmo arquipélago. Mesmo que um membro da família escolha um caminho radicalmente diferente, ou rompa o contato, ele carrega consigo a marca de onde veio. Pertencer não exige fusão, mas reconhecimento. Precisamente porque a distância não apaga o pertencimento.
No ponto, vem a propósito a Lei n. 15.240/25, publicada no Diário Oficial da União nesta última quarta-feira (29/10) que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei 8.069/90). O novo texto estabelece que a falta de cuidado, carinho e presença dos pais na vida dos filhos pode gerar consequências legais, traduzidas no fato de o abandono afetivo constituir ilícito civil. Ou seja, uma ação contrária à lei que gera responsabilidade civil, a permitir indenização.
O abandono afetivo ocorre quando pais ou responsáveis deixam de garantir o sustento, o cuidado emocional ou a convivência familiar. Foi introduzido parágrafo único ao art. 5º do ECA, estabelecendo que “considera-se conduta ilícita, sujeita a reparação de danos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, a ação ou a omissão que ofenda direito fundamental de criança ou de adolescente previsto nesta Lei, incluídos os casos de abandono afetivo.” A recente lei constitui significativo avanço como ferramenta de combate perante uma paternidade irresponsável, quando, inclusive, a pensão alimentícia configura obrigação de solidariedade familiar.
Assim, compete aos pais, além de zelar pelos direitos fundamentais da criança, em sua dignidade de pessoa, prestar aos filhos assistência afetiva, por meio de convívio ou de visitação periódica, que permita o acompanhamento da formação psicológica, moral e social da pessoa em desenvolvimento (Lei n. 15.240/25).
Noutro giro, entenda-se que as regras de regência das relações familiares situam-se em suas tessituras construtivas: (i) pela necessidade permanente de diálogos e de afetos que dimensionem a importância da família; (ii) pela solidariedade maior entre as gerações que a compõem; (iii) pela proteção da pessoa idosa, situada no contexto da realidade familiar atual. Aliás, os lares unipessoais de pessoas acima dos 60 anos, que vivem sozinhas e sem amparo familiar, provocando a chamada “morte solitária”, estão a exigir a criação de um regime jurídico protetivo.
Enquanto isso, as famílias constituídas pelos pais e filhos que acolhem seus ascendentes no seio familiar, assegurando-lhes proteção e convivência, apresentam-se como uma nova modalidade de entidade familiar, como prática crescente. Elas estão a merecer políticas públicas de apoio e subvenção social.
A solidariedade familiar indica que embora a família seja um arquipélago, deve ser personalizada por relações mais estreitas, cujo grau de proximidade entre os membros da família, centra-se mais na afetividade do que na obrigatoriedade.
![]() O arquipélago também se transforma. Com o tempo, ilhas afundam, outras emergem. Assim também é a família: novas gerações nascem, antigos membros se vão, e a configuração muda. O arquipélago é vivo, em constante movimento. E, como na geografia, há beleza nessa transformação, nas memórias e no futuro. Homem algum é uma ilha, dirá Thomas Merton.
O arquipélago também se transforma. Com o tempo, ilhas afundam, outras emergem. Assim também é a família: novas gerações nascem, antigos membros se vão, e a configuração muda. O arquipélago é vivo, em constante movimento. E, como na geografia, há beleza nessa transformação, nas memórias e no futuro. Homem algum é uma ilha, dirá Thomas Merton.
Jones Figueirêdo Alves é Desembargador Emérito do TJPE. Advogado e parecerista
Os artigos assinados aqui publicados são inteiramente de responsabilidade de seus autores e não expressam posicionamento institucional do IBDFAM