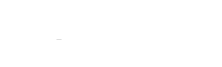Artigos
Eutanásia, Autonomia Privada e Dignidade da Pessoa Humana: O Direito de Escolher o Próprio Fim
Na semana passada, o Uruguai tornou-se pioneiro na América Latina ao aprovar uma lei que autoriza a eutanásia em casos de sofrimento insuportável decorrente de doenças incuráveis. Com essa decisão, o país integra um grupo restrito de nações que optaram por enfrentar, juridicamente, uma das questões mais sensíveis e complexas da contemporaneidade: o direito do indivíduo, diante de uma morte certa e dolorosa, de escolher, de forma livre, consciente e esclarecida, o momento do próprio fim. Mais que um marco legislativo, a norma uruguaia reabre, para todos nós, um debate fundamental sobre os contornos da autonomia privada, os limites da tutela estatal e o alcance prático da dignidade da pessoa humana.
A eutanásia — entendida como a prática deliberada de provocar a morte de alguém a seu pedido, com vistas a pôr fim a um sofrimento físico ou psíquico intolerável e irreversível — situa-se na confluência entre direito, ética e medicina. A discussão que ela suscita evoca o que há de mais humano — a dor, o medo, o desejo de controle sobre a própria existência — e desafia os alicerces do ordenamento jurídico, construído tradicionalmente sobre a premissa da proteção incondicional da vida como bem indisponível.
Mas o que justifica, então, o reconhecimento e o debate acerca da eutanásia? A resposta reside na convergência entre dois elementos estruturantes da ordem jurídica: a autonomia privada e a dignidade da pessoa humana.
A autonomia privada representa a expressão máxima da liberdade individual — o direito do sujeito de dispor de si, inclusive quanto ao prolongamento ou à interrupção da própria vida, desde que esteja em plena posse de sua capacidade e compreenda as consequências de sua escolha. Trata-se de uma liberdade qualificada: não absoluta, mas juridicamente protegida quando exercida de forma livre, consciente e esclarecida.
A dignidade da pessoa humana, consagrada no caso brasileiro como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da Constituição Federal), é o alicerce de todo o edifício normativo do Estado Democrático de Direito. E sua proteção vai muito além da preservação meramente biológica da existência humana. Implica assegurar ao indivíduo uma vida plena e, por que não, uma morte livre de humilhação, de sofrimento desproporcional, de desrespeito à sua integridade moral. Onde há dor contínua, onde a vida se converte em tormento sem horizonte, a dignidade pode ceder lugar à degradação. E nesse ponto, a recusa do Estado em reconhecer o direito de escolha pode deixar de ser proteção para se tornar uma verdadeira violência.
A legislação uruguaia recentemente aprovada demonstra sensibilidade e rigor. Estabelece critérios claros: o paciente deve ser maior de idade, plenamente capaz, portador de enfermidade irreversível e em estado de sofrimento intolerável. O pedido deve ser expresso, voluntário, informado e revogável a qualquer momento. A prática é submetida à avaliação de médicos independentes e, em caso de divergência, a comissões técnicas. Trata-se, assim, de um modelo que combina liberdade com responsabilidade institucional, autonomia com controle ético.
O contraste com o Brasil é marcante. Aqui, a eutanásia permanece criminalizada como homicídio doloso, nos termos do artigo 121 do Código Penal, ainda que a motivação seja compassiva.
Por outro lado, a ortotanásia — isto é, a recusa a tratamentos fúteis ou desproporcionais em contexto terminal — tem obtido reconhecimento gradual, com respaldo em resoluções do Conselho Federal de Medicina e na doutrina do consentimento informado e esclarecido. Mas não há, até o momento, ambiente legislativo consolidado que autorize o exercício pleno do direito de morrer com dignidade nos moldes da eutanásia.
Esse quadro revela um paradoxo preocupante: o ordenamento reconhece ao paciente terminal o direito de recusar terapias invasivas, mas nega-lhe o direito de abreviar, com segurança e assistência, uma existência marcada exclusivamente por dor e desesperança. Em nome da vida, o Estado impõe sofrimento; em nome da proteção, compromete a autonomia privada. Trata-se de uma contradição que fere, em última instância, a própria ideia de dignidade como um valor jurídico.
Mais do que um ponto final, a morte é parte intrínseca da própria vida. Fingir o contrário é negar a nossa condição humana. Refletir sobre a morte permite a valorização da vida.
Se o Direito se ocupa de regular o nascimento, as relações comerciais, os contratos e os conflitos que permeiam o convívio em sociedade, por que hesitaria em acolher, com sensibilidade e racionalidade, o momento derradeiro da jornada humana? Reconhecer que o fim da vida pode — e deve — ser também um espaço de dignidade, liberdade e escolha é um sinal de maturidade institucional e civilizatória.
O morrer não deve ser tratado como tabu ou falha, mas como uma etapa legítima da experiência humana, que merece amparo ético, jurídico e médico.
É evidente que o tema exige prudência. O risco de abusos — sobretudo contra pessoas vulneráveis, pobres, idosas ou solitárias — não pode ser ignorado. Mas é justamente por isso que a regulação se faz necessária. A ausência de normas não protege: apenas empurra as decisões para o silêncio, para a clandestinidade e para a desassistência. Um marco legal rigoroso, com salvaguardas éticas e institucionais, é a única via capaz de assegurar que a escolha seja, de fato, livre e segura.
Debater a eutanásia, portanto, não é meramente discutir a morte — mas o tipo de vida que o Direito se propõe a preservar. Uma vida sustentada a todo custo, sem qualidade, sem perspectiva, sob o peso de uma dor inescapável, pode deixar de ser uma proteção para se tornar uma verdadeira forma de opressão. A liberdade, exercida com lucidez e respeito, deve incluir o direito de dizer “chega”, com dignidade.
A vida é, sim, um valor jurídico central — mas não é uma obrigação absoluta. E a morte, quando buscada sob o signo da dignidade, não pode ser transformada em punição.
Manoel Brandão Teixeira
Advogado. Sócio do escritório Brandão Carvalho Advogados Associados. Associado do IBDFAM. Pós-Graduado em Direito de Família e Sucessões pelo IBDFAM.
Os artigos assinados aqui publicados são inteiramente de responsabilidade de seus autores e não expressam posicionamento institucional do IBDFAM