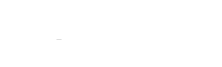Artigos
Agnosticismo Jurídico-Hormonal: O Corpo Ignorado da Mulher Madura e a Crise do Dever de Cuidado no Direito das Famílias
Tatiana V. Fortes[1]
Resumo: Este artigo propõe uma reflexão jurídica, social e existencial sobre os impactos da menopausa nas relações familiares e conjugais, a partir da vivência pessoal da autora enquanto mulher, advogada de famílias e sujeito de recomeços. Mediante abordagem interdisciplinar, problematiza-se o que se conceitua como "agnosticismo jurídico-hormonal": a deliberada invisibilidade institucional que silencia os sintomas da mulher em climatério no contexto médico, jurídico e doméstico, resultando na ausência de previsões normativas capazes de enfrentar a vulnerabilidade existencial que acomete as mulheres durante o processo de envelhecimento. A pesquisa dialoga com os aportes doutrinários de Patrícia Calmon, ao evidenciar o abandono das mulheres maduras no espaço privado e público; de Maria Berenice Dias, ao defender a centralidade da equidade de gênero no Direito das Famílias; e de Rolf Madaleno, que alerta para a necessidade de atualização permanente da dogmática familiarista. Diante desse cenário, a autora propõe a adoção de instrumentos jurídicos preventivos – como contratos afetivos e cláusulas de cuidado – como mecanismos de proteção emocional, patrimonial e existencial da mulher no climatério. Defende-se, assim, a construção de um Direito das Famílias que acolha a transição hormonal e emocional feminina como fator legítimo de reorganização subjetiva, econômica e jurídica.
Palavras-chave: Menopausa. Direito das Famílias. Vulnerabilidade. Planejamento Familiar. Envelhecimento Feminino.
Abstract
This article proposes a legal, social, and existential reflection on the impacts of menopause on family and marital relationships, based on the author's personal experience as a woman, a family lawyer, and a subject of new beginnings. Through an interdisciplinary approach, it problematizes what is conceptualized as "legal-hormonal agnosticism": the deliberate institutional invisibility that silences the symptoms of women in the climacteric phase within medical, legal, and domestic contexts, resulting in a lack of normative provisions capable of addressing the existential vulnerability that affects women during the aging process. The research engages with the doctrinal contributions of Patrícia Calmon, by highlighting the abandonment of mature women in private and public spheres; of Maria Berenice Dias, by defending the centrality of gender equity in Family Law; and of Rolf Madaleno, who warns of the need for the permanent updating of family law doctrine. In this context, the author proposes the adoption of preventive legal instruments—such as affective contracts and care clauses—as mechanisms for the emotional, patrimonial, and existential protection of women in the climacteric phase. Thus, it advocates for the construction of a Family Law that embraces the female hormonal and emotional transition as a legitimate factor for subjective, economic, and legal reorganization.
Keywords: Menopause. Family Law. Vulnerability. Family Planning. Female Aging.
1. Introdução: o corpo ignorado e o silêncio do direito – por uma dogmática familiarista do climatério
O Direito das Famílias contemporâneo, embora atento às múltiplas configurações do afeto e às vulnerabilidades emergentes, ainda opera a partir de um profundo e paradoxal silêncio: o que recai sobre o climatério. Em um Brasil onde, segundo dados do IBGE (2022), mais de 52 milhões de mulheres estão acima dos 45 anos e, destas, estima-se que 30 milhões vivenciam o climatério ou a menopausa (SENADO FEDERAL, 2024), essa transição biopsicossocial de alta complexidade, que impacta diretamente a capacidade decisória, a estabilidade emocional e a autonomia patrimonial, permanece como um ponto cego na doutrina, na jurisprudência e, consequentemente, na prática jurídica.
A menopausa, fenômeno universal e inevitável, é tratada como um tabu no espaço privado e como uma irrelevância no campo normativo, criando uma perigosa zona de desproteção para mulheres em momentos críticos de reorganização familiar e patrimonial, como o divórcio.
Este artigo propõe-se a investigar essa lacuna, partindo de uma abordagem que alia a análise doutrinária e jurisprudencial a um estudo de caso autoetnográfico. A investigação nasce da vivência da própria autora, advogada familiarista, cuja trajetória de quase dois anos de diagnósticos psiquiátricos equivocados, medicalização excessiva e colapso físico e emocional revelou-se, tardiamente, ser o resultado de uma menopausa não diagnosticada e não tratada. A experiência de ter a própria capacidade de discernimento e agência minada por uma condição fisiológica ignorada pelo sistema de saúde funcionou como o catalisador para uma inquietação profissional: quantas mulheres, em meio a essa mesma confusão hormonal, estão assinando acordos de partilha, aceitando revisões de guarda ou enfrentando processos litigiosos em condição de manifesta vulnerabilidade, sendo suas reações interpretadas como desequilíbrio, instabilidade ou má-fé?
Aos 48 anos, a autora experimentou um profundo esgotamento existencial, marcado por lapsos de memória, insônia e desânimo, que culminou em um estado de intoxicação medicamentosa e falência corporal. O diagnóstico correto da menopausa e o subsequente tratamento hormonal não apenas restauraram sua saúde, mas descortinaram uma realidade invisível na prática forense: a de que muitas clientes, em crise conjugal, apresentavam sintomas análogos, mascarados sob o rótulo de sofrimento puramente psíquico. A percepção de que o corpo feminino e seus ciclos hormonais são sistematicamente ignorados nas mesas de negociação e nos tribunais constitui o problema central desta pesquisa.
A tese central aqui defendida é que a invisibilidade do climatério no campo jurídico não constitui uma omissão neutra, mas uma falha estrutural que agrava a vulnerabilidade feminina e viola o princípio da dignidade da pessoa humana em sua dimensão de integridade psicofísica. Para tanto, o percurso argumentativo se inicia com a exposição da experiência pessoal como método para desvelar o problema. Em seguida, analisa-se a dimensão institucional dessa negligência, com base em dados sobre políticas públicas e saúde.
O diálogo com a doutrina de Patrícia Calmon, especialmente sua obra Direito das Famílias e da Pessoa Idosa, será o fio condutor para conceituar a vulnerabilidade decorrente do envelhecimento e do trabalho de cuidado. As contribuições de Maria Berenice Dias sobre a perspectiva de gênero e de Rolf Madaleno sobre os instrumentos de reequilíbrio econômico, como os alimentos transitórios, fornecerão o arcabouço para as soluções propostas.
Busca-se, em última análise, responder a uma pergunta urgente: como pode o Direito das Famílias, que se pretende um direito do cuidado e da proteção, permanecer alheio a um dos ciclos mais transformadores da vida da mulher? Este artigo sustenta que falar de menopausa é falar de justiça de gênero, de capacidade civil e de liberdade patrimonial, e defende a construção de uma dogmática familiarista que finalmente acolha o envelhecimento feminino como um projeto de vida digno de proteção jurídica integral.
1.2. Da Experiência Individual à Realidade Coletiva: A Construção do Problema Jurídico
A transposição da vivência pessoal para a análise jurídica constitui o método e o propósito deste ensaio. A menopausa, longe de ser um mero marco reprodutivo, revela-se como uma complexa etapa de transição biopsicossocial que impacta diretamente a autonomia, a cognição e a capacidade decisória da mulher. Estudos na área da saúde já correlacionam o climatério a uma maior prevalência de transtornos de ansiedade e depressão (VERAS; LIMA; FREITAS, 2006). Silenciar sobre essa realidade, portanto, é negar às mulheres o direito de envelhecer com dignidade, perpetuando uma invisibilidade institucional cuja raiz, como demonstra Patrícia Calmon, é a própria estrutura de gênero que molda as relações familiares.
A vulnerabilidade da mulher na maturidade não surge no climatério; ela é o ápice de um processo construído socialmente. Historicamente, como consectário do machismo estrutural, é a mulher quem exerce o papel de cuidadora, uma função cuja invisibilização fortaleceu o estereótipo masculino de autoridade e provedor. Essa dinâmica, como aponta Calmon (2025) ao citar Nepomuceno e Cysne, estabeleceu diferenças estruturais na família:
O “estereótipo feminino parte da construção e da representação ideal da maternidade, da capacidade de maternagem e da responsabilidade pela criação dos filhos e pelos cuidados com o lar” e, ainda, que a invisibilização “do trabalho doméstico não remunerado fortaleceu o estereótipo masculino de autoridade proveniente de seus recursos materiais obtidos no trabalho fora do ambiente doméstico. E estabeleceu diferenças estruturais na família”. (CALMON, 2025, p. 151).
Essa percepção foi transposta para a prática advocatícia, onde a observação empírica de clientes em crise conjugal revelou um padrão sintomático análogo ao vivenciado pela autora. A inclusão de questionamentos sobre a saúde hormonal nas anamneses jurídicas permitiu constatar que, em muitos casos, a hostilidade e o desânimo atribuídos ao fim do relacionamento possuíam uma base fisiológica tratável, mas ignorada, que se somava a essa vulnerabilidade estrutural de uma vida inteira dedicada ao cuidado.
Emergem, assim, as questões centrais que movem esta investigação: qual o impacto da vulnerabilidade neuroquímica e emocional, sobreposta a uma vulnerabilidade econômica e social historicamente construída, na validade dos negócios jurídicos familiares? De que modo o sistema de justiça, ao ignorar essa dupla camada de vulnerabilidade, válida decisões tomadas em um estado de discernimento potencialmente comprometido? A ausência de um protocolo de escuta qualificada agrava o que Bicalho (2022) descreve como um ciclo de exclusão e abandono institucional.
Nesse contexto, este artigo sustenta a tese de que a discussão sobre a menopausa transcende a saúde da mulher para se tornar uma questão central de justiça de gênero, capacidade civil e autonomia patrimonial no Direito das Famílias. Trata-se de um chamado para a construção de uma dogmática que reconheça o climatério como fator de hiper vulnerabilidade e que desenvolva instrumentos jurídicos para assegurar proteção e paridade de armas às mulheres nesse ciclo de reorganização existencial.
2. Do agnosticismo jurídico-hormonal à violação de direitos fundamentais
2.1. O Direito à Saúde e a Omissão Estatal como Política de Abandono
A invisibilidade da menopausa no Brasil transcende a barreira cultural para se consolidar como um projeto de negligência estrutural. Os dados que revelam um universo de 30 milhões de mulheres no climatério em contraponto a meros 238 mil diagnósticos no Sistema Único de Saúde (SUS) (SENADO FEDERAL, 2024) não expõem uma simples defasagem, mas a materialização do que propomos conceituar como Agnosticismo Jurídico-Hormonal: a postura deliberada do Estado e do Direito de não conhecer e não reconhecer a realidade biológica do corpo feminino e suas implicações, tratando a mulher como um sujeito de direitos abstrato e descorporificado.
Essa postura viola frontalmente o direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal. A ausência de protocolos específicos, a tolerância com a prática de diagnósticos equivocados e a substituição de tratamentos hormonais por psicotrópicos (MENDES: 2023; VERAS; LIMA; FREITAS: 2006) configuram uma omissão estatal que compromete a integridade psicofísica de milhões de cidadãs.
Por analogia, se o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral, firmou a tese da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de tratamentos de saúde, inclusive os não padronizados, torna-se juridicamente indefensável que o mesmo Estado se omita em estruturar o atendimento básico para uma condição que afeta uma parcela tão expressiva da população. A omissão, neste caso, não é uma falha de gestão; é uma política de abandono.
2.2. Isonomia Material e o Impacto na Vida Produtiva
A ausência de reconhecimento jurídico das repercussões neuro-hormonais do climatério configura o que aqui se denomina de agnosticismo jurídico-hormonal, expressão que remete à postura institucional de não considerar juridicamente relevantes as vulnerabilidades físicas, psíquicas e cognitivas vivenciadas por mulheres em transição endócrino-reprodutiva. Tal omissão constitui violação direta ao princípio da isonomia material, insculpido no art. 5º, caput, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), ao perpetuar uma concepção formalista de igualdade que desconsidera as especificidades concretas da experiência feminina no ciclo de vida maduro.
A legislação trabalhista brasileira, ainda estruturada sob os paradigmas da produtividade homogênea e da neutralidade corporal, silencia diante das demandas específicas das mulheres climatéricas. A exigência de desempenho equivalente entre sujeitos em condições fáticas desiguais, sem qualquer mitigação normativa, revela-se como expressão de uma igualdade apenas aparente, que escamoteia a opressão sistemática sob a roupagem de um ideal abstrato de equidade.
O Estado brasileiro, que já reconheceu juridicamente a vulnerabilidade da mulher em fase gestacional por meio de institutos como a licença-maternidade, nega a mesma proteção à mulher na fase pós-reprodutiva, instaurando um tratamento assimétrico de estágios biográficos igualmente relevantes. Essa distinção de tratamento carece de correlação lógica com a desigualdade que se pretende compensar, critério essencial para a validade de qualquer discrímen, como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 11):
[...] o que a ordem jurídica veda são as discriminações arbitrárias, as diferenciações absurdas, sem qualquer nexo com o objetivo que se pretende atingir. [...] O ponto nodular da questão da igualdade reside na busca de uma correlação lógica entre o fator de discrímen e a desequiparação procedida.
A proteção da fertilidade, enquanto direito, não pode justificar o abandono institucional do envelhecimento feminino, sobretudo em uma sociedade em que a expectativa de vida das mulheres ultrapassa os 80 anos, com cerca de um terço desse tempo vivenciado no climatério.
A crítica aprofunda-se quando analisada sob a ótica da interseccionalidade, conceito cunhado por Kimberlé Crenshaw (1989) para designar a sobreposição de marcadores sociais de vulnerabilidade. Mulheres negras, indígenas, periféricas ou de baixa escolaridade enfrentam, de forma mais acentuada, o impacto da exclusão produtiva decorrente do climatério não tratado, combinada à precarização laboral e ao estigma racial ou territorial. Nessas trajetórias, a vulnerabilidade hormonal não atua isoladamente, mas como um agravante das desigualdades pré-existentes.
Neste cenário, a omissão normativa frente às necessidades hormonais femininas na maturidade constitui forma de discriminação indireta de gênero e idade, perpetuando um modelo de cidadania produtiva excludente. Tal lacuna demanda a construção de uma dogmática jurídica sensível aos marcadores biográficos e fisiológicos, em diálogo com os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do trabalho e da equidade substantiva, nos moldes defendidos pela melhor doutrina constitucionalista.
2.3. As Iniciativas Legislativas como Ponto de Inflexão na Trajetória dos Direitos de Proteção
As recentes iniciativas legislativas, como o Projeto de Lei n. 3.933/2023 e o PLS n. 820/2024, representam um ponto de inflexão normativo, cujo significado se aprofunda quando analisado à luz da trajetória histórica dos direitos de proteção no Brasil. Tal como a pessoa idosa, a mulher climatérica foi por muito tempo relegada a uma invisibilidade jurídica, com suas necessidades tratadas como questões do âmbito privado, familiar ou, no máximo, como um "risco social" para fins previdenciários, mas nunca como uma condição que demandasse uma tutela de direitos fundamentais.
Patrícia Calmon (2025), ao reconstituir a evolução dos direitos da pessoa idosa, demonstra que antes da Constituição de 1988, a proteção era fragmentada e residual. Citando Paulo Roberto Ramos, a autora evidencia um passado em que o Estado se omitia de seu dever de cuidado:
[...] antes mesmo da Lei Eloy Chaves havia a casa dos inválidos, destinada apenas a militares que lutaram em defesa da colônia portuguesa. Ademais, ainda no II Império, havia legislação que protegia especificamente os velhos pertencentes ao funcionalismo público (militares e civis). O Estado se organizava para si mesmo e deixava às famílias e às ordens religiosas a assistência aos mendicantes e velhos. (RAMOS apud CALMON, 2025, p. 95).
A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) rompeu com essa lógica ao estabelecer, em seu art. 230, que "a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida". Os projetos de lei sobre o climatério inserem-se, portanto, nessa mesma esteira evolutiva: eles representam o reconhecimento tardio, pelo Poder Legislativo, de que a mulher na maturidade também é sujeito de um dever de amparo específico por parte do Estado, da sociedade e da família.
Contudo, a mera existência da lei é insuficiente. Tais projetos devem ser interpretados e aplicados pelo Judiciário não como uma concessão, mas como a concretização de direitos fundamentais preexistentes, como a dignidade, a saúde e a isonomia. A futura Política Nacional de Atenção à Mulher no Climatério nasce, portanto, com a missão de romper com o Agnosticismo Jurídico-Hormonal e de fornecer a densidade normativa necessária para que o Direito das Famílias, em especial, passe a considerar o impacto biológico da menopausa na análise da vulnerabilidade, na fixação de alimentos e na validação dos negócios jurídicos familiares, tratando o envelhecimento feminino não como um infortúnio, mas como um ciclo de vida digno de proteção integral.
3. O direito das famílias diante do envelhecimento feminino: vulnerabilidade e o "divórcio grisalho"
3.1. A Menopausa como Catalisador da Emancipação Tardia no Divórcio Grisalho
O fenômeno do "divórcio grisalho" (gray divorce), que designa as dissoluções conjugais entre pessoas com mais de 50 anos, representa um dos mais relevantes desafios sociológicos para o Direito das Famílias contemporâneo. Longe de ser uma coincidência estatística, seu crescimento exponencial reflete uma profunda mudança de paradigma sobre felicidade, longevidade e autonomia na maturidade. Como aponta Patrícia Calmon (2025), o protagonismo nesse cenário pertence à geração baby boomer, cuja trajetória de vida foi marcada por uma revolução de costumes.
Não é demais dizer que a era dos babyboomers é aquela que liderou a emancipação feminina, o direito ao sufrágio universal, o surgimento das principais leis de divórcio ao redor do mundo, a ascensão da igualdade entre gêneros, a maior inserção da mulher no mercado de trabalho, enfim, presenciaram e foram personagens centrais nessa cultura da emancipação que conferiu a liberdade que se tem hoje. Seguramente, pode-se afirmar que as mudanças ocasionadas na segunda metade do século XX trouxeram alterações de relevo em diversas searas, inclusive nas formas de se relacionar e formar família. (CALMON, 2025, p. 344).
Contudo, este ensaio propõe um passo analítico adiante, que conecta essa "cultura da emancipação" a um gatilho biológico e existencial específico: a menopausa. Sustenta-se que a transição climatérica atua como o catalisador que transforma a potência cultural da autonomia em um ato concreto de ruptura. Para a mulher que, por décadas, suspendeu ou modulou seus anseios individuais em prol de um projeto de vida familiar baseado em papéis sociais tradicionais, a menopausa representa um confronto inevitável com a finitude e com o esvaziamento do afeto. O "silêncio dos hormônios" permite que ela escute, pela primeira vez com clareza, o "grito do próprio corpo" por um recomeço alinhado à sua identidade e ao seu desejo.
Nessa perspectiva, fatores como a "maior autonomia da mulher" (CALMON, 2025, p. 346) não são apenas uma causa isolada, mas a condição de possibilidade para que a crise existencial da menopausa se converta em uma decisão de divórcio. A mulher madura que interrompe o vínculo não o faz por fraqueza, mas porque a dissonância entre a liberdade culturalmente prometida por sua geração e a realidade de um casamento esvaziado de mutualidade torna-se insustentável.
Portanto, o Direito das Famílias, ao se deparar com o divórcio grisalho, não pode interpretar a decisão da mulher como um ato de instabilidade ou despropósito. Deve, ao contrário, reconhecê-lo como a legítima busca por coerência e dignidade, um ato de emancipação tardia catalisado por uma profunda e universal transformação biopsicossocial. Proteger o direito ao recomeço, nesse contexto, é proteger a própria dignidade da pessoa humana em sua manifestação mais autêntica.
3.2. A Hipervulnerabilidade Climatérica e a Insuficiência da Dogmática Alimentar Tradicional
A vulnerabilidade da mulher em processo de envelhecimento, como adverte Patrícia Calmon (2025), não é um evento, mas um contínuo que se acentua em fases críticas. O climatério representa, nesse percurso, um momento de hipervulnerabilidade, no qual a vulnerabilidade estrutural de gênero, decorrente de uma vida dedicada ao cuidado, colide com uma crise neuro-hormonal aguda e debilitante. A própria dogmática familiarista já sinaliza que a regra da transitoriedade alimentar deve ser revista em cenários de divórcio tardio, pois, como afirma Calmon (2025, p. 350), “toda essa ótica precisa ser revista quando se estiver diante de alimentos decorrentes do divórcio grisalho”.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), embora ainda não nomeie o fenômeno, tem oferecido as ferramentas para essa proteção. Ao consolidar a regra da transitoriedade dos alimentos, ressalvou sua aplicação em "situações excepcionais", notadamente quando a reinserção da mulher no mercado de trabalho se mostra inviável.
O que o acórdão proferido no AgInt no REsp 1.951.351/MG descreve como "impossibilidade prática" decorrente da "idade do ex-cônjuge e o longo período dedicado exclusivamente à família" (BRASIL, 2022) é, frequentemente, a manifestação de sintomas climatéricos severos, como névoa cognitiva e fadiga crônica, que minam a capacidade laboral. A hipervulnerabilidade climatérica, portanto, deve ser formalmente reconhecida como uma das hipóteses de excepcionalidade que justificam o afastamento da regra da transitoriedade.
Contudo, a proteção se agrava e exige um olhar mais agudo diante de atos que configuram violência patrimonial de gênero. A conduta de cancelar unilateralmente o plano de saúde da ex-cônjuge durante o climatério é um exemplo emblemático. Tal ato não apenas priva a mulher do acesso à saúde no momento em que ela mais necessita, mas também a asfixia economicamente.
A solução para essa violência encontra amparo na fixação de alimentos in natura, instituto que a doutrina já aponta como crucial no divórcio tardio. Como destaca Calmon (2025, p. 351), a manutenção do plano de saúde “se mostra peculiar no divórcio tardio, considerando a necessidade de preservação do direito à saúde dos envolvidos, que podem já possuir comorbidades ou doenças preexistentes”. A recusa em manter o plano, portanto, deve ser interpretada não como um mero desacerto, mas como um ilícito que atrai o dever de reparar, seja pela manutenção forçada, seja pela fixação de um valor em pecúnia correspondente.
Adicionalmente, e de forma cumulativa, a proteção patrimonial da mulher climatérica encontra seu mais potente instrumento nos alimentos compensatórios. Distintos dos alimentos de necessidade, estes não visam à subsistência, mas ao reequilíbrio econômico-financeiro rompido pela dissolução do vínculo. No julgamento do REsp 1.290.313/AL, o STJ assentou que tal verba é devida quando a partilha, por si só, não é capaz de restabelecer o equilíbrio.
A mulher em hipervulnerabilidade climatérica é a candidata por excelência a essa proteção. Sua condição não apenas a impede de prover o próprio sustento, como também a incapacita de reconstruir o status patrimonial perdido, tornando a queda do padrão de vida dramática e duradoura. A aplicação dos alimentos compensatórios, nesse contexto, transcende a função alimentar para se tornar um instrumento de justiça de gênero, que reconhece e valora economicamente o custo que a dedicação à família impôs à autonomia da mulher, agravado pela crise biológica do envelhecimento.
É imperativo ressaltar, contudo, que a tutela da mulher em hipervulnerabilidade climatérica não implica um apagamento da dignidade do alimentante, especialmente em um cenário de divórcio grisalho onde ambos os ex-cônjuges podem enfrentar as agruras do envelhecimento. A análise, como bem adverte a própria Patrícia Calmon (2025, p. 351), deve ser criteriosa, ponderando a condição econômica do devedor. A questão central, no entanto, não é 'se' a proteção é devida, mas 'como' ela será implementada. A solução não reside em negar os alimentos, mas em modular seu quantum e, principalmente, em utilizar os alimentos compensatórios ou humanitários e a partilha de bens como os principais instrumentos de reequilíbrio, preservando a obrigação alimentar de necessidade para as situações mais extremas, em plena consonância com o binômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
3.3. A Violência Patrimonial Climatérica e a Tutela Jurisdicional da Saúde
A vulnerabilidade da mulher no climatério atinge seu ápice quando a crise biológica se encontra com a violência patrimonial. O ato de um ex-cônjuge cancelar unilateralmente o plano de saúde da mulher que atravessa essa fase de intensa necessidade de cuidados médicos não é um mero desacerto do divórcio. Configura nítida expressão de violência patrimonial de gênero, nos termos do art. 7º, IV, da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), por se tratar da retenção e subtração de recursos (o acesso ao serviço de saúde) indispensáveis à sua dignidade e bem-estar.
A resposta jurídica a essa agressão deve ser imediata e eficaz, encontrando nos alimentos in natura o seu mais potente instrumento. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça, embora ainda não utilize a terminologia "climatério", tem sido sensível a situações análogas, deferindo a manutenção do plano de saúde em sede de tutela de urgência quando a mulher se encontra em situação de fragilidade.
Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0095092-34.2022.8.19.0000, já reconheceu a excepcionalidade da manutenção do plano como prestação alimentar, especialmente diante da "situação de fragilidade experimentada pela autora, que se vê excluída de plano de saúde após longo período e no curso de tratamento de doença que demanda acompanhamento periódico" (RIO DE JANEIRO, 2023).
Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), ao julgar a Apelação Cível n. 1004468-97.2020.8.26.0451, considerou manifestamente abusiva a conduta de encerrar unilateralmente a cobertura durante o tratamento de um câncer, deixando a consumidora "à própria sorte", por clara violação à boa-fé contratual e à função social do contrato (SÃO PAULO, 2021).
A tese que se defende é que a hipervulnerabilidade climatérica, com seus múltiplos sintomas físicos e psíquicos, deve ser equiparada, para fins de tutela de urgência, a uma "doença grave". A eventual impossibilidade contratual de manter a ex-cônjuge como dependente não exime o alimentante do dever de cuidado, que emana do princípio da solidariedade (art. 1.694, CC). A obrigação, nesse caso, transmuda-se: o dever de manter converte-se no dever de custear.
A inércia do Judiciário diante de tal cenário, proferindo decisões "insensíveis a essa realidade biológica e social", não é mera falha processual. É uma forma de revitimização institucional, que valida a violência sofrida e aprofunda o "agnosticismo jurídico-hormonal" que este artigo denuncia. A tutela da saúde da mulher climatérica em situação de violência patrimonial não é uma questão de mérito a ser discutida ao final do processo; é um pressuposto de dignidade a ser garantido no início.
4. A advocacia do recomeço: instrumentos preventivos e compensatórios para a mulher climatérica
A resposta do Direito à hipervulnerabilidade climatérica não pode se limitar à atuação reativa do Judiciário. Exige uma advocacia familiarista que opere na vanguarda, de forma preventiva e estratégica, utilizando a autonomia privada como ferramenta de proteção. Nesse contexto, os contratos familiares, como pactos antenupciais, de união estável e, sobretudo, os pactos pós-nupciais ou de convivência, emergem como o espaço por excelência para a construção de uma "micro-política de cuidado" para o envelhecimento.
A proposta central é a inserção da "Cláusula de Cuidado e Reequilíbrio Climatérico" nesses instrumentos. Trata-se de uma disposição contratual que reconhece a menopausa como um evento de vida significativo e que pode prever, por exemplo, a obrigação de custeio de um plano de saúde, a garantia de acesso a tratamentos ou, crucialmente, a instituição de um fundo de reserva para o período. Tal cláusula materializa o que Patrícia Calmon (2025) denomina Plano de Adequação Patrimonial (PAP), permitindo que o casal, de forma lúcida e planejada, organize deliberadamente as questões patrimoniais e existenciais para as novas fases da vida.
Quando a prevenção não foi possível, a solução reside na aplicação equitativa dos institutos alimentares. Inspirados na doutrina de Rolf Madaleno (2024), que há muito aponta a insuficiência da dogmática alimentar tradicional, propõe-se uma dupla abordagem. Primeiramente, os alimentos transitórios devem ter seu prazo e valor modulados pela condição climatérica, garantindo à mulher não apenas tempo para sua reinserção no mercado, mas para sua recuperação física e psíquica.
De forma ainda mais potente, os alimentos compensatórios revelam-se o instrumento mais adequado para a reparação da desigualdade. Como assentado pelo STJ no REsp 1.290.313/AL, sua finalidade não é a subsistência, mas o reequilíbrio do padrão de vida rompido pela dissolução do vínculo. A mulher climatérica sofre uma dupla perda: a do status econômico do casamento e a da sua própria capacidade produtiva, minada pela crise hormonal. Os alimentos compensatórios, nesse cenário, funcionam como uma justa indenização pela perda de chance decorrente de uma vida dedicada ao cuidado, cuja fatura é agravada pela chegada da menopausa.
5. A omissão como violação de direitos humanos: o dever de cuidado na perspectiva internacional
A invisibilidade institucional do climatério transcende a mera lacuna legislativa; ela configura uma forma de violência de gênero por omissão, analisável sob a ótica dos direitos humanos. A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), internalizada no Brasil pelo Decreto n. 1.973/1996, define violência contra a mulher como qualquer conduta baseada no gênero que lhe cause "dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico", tanto na esfera pública quanto na privada (OEA, 1994, Art. 1).
A omissão do Estado em criar políticas públicas de saúde, em capacitar profissionais e em garantir acesso à informação e tratamento para a menopausa resulta em um sofrimento psicológico e físico perfeitamente enquadrável no conceito da Convenção. Essa falha viola o dever de "agir com a devida diligência para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher" (OEA, 1994, Art. 7, b).
O despertar legislativo, ainda que tardio, sinaliza um reconhecimento dessa omissão. O Projeto de Lei n. 3.933/2023, que visa instituir a Semana Nacional de Conscientização sobre a Menopausa, e o Projeto de Lei do Senado n. 820/2024, que propõe a Política Nacional de Atenção Integral à Mulher no Climatério, são as primeiras tentativas do Estado brasileiro de cumprir com suas obrigações internacionais. Tais projetos, ao preverem acesso a medicamentos, atendimento psicológico e campanhas educativas, representam o início da construção de uma rede de proteção pública que o Direito de Família, através dos instrumentos contratuais e da jurisprudência, deve complementar na esfera privada. Negar atendimento de qualidade ou ignorar os impactos do climatério nas decisões judiciais é, em última análise, perpetuar uma violação de direitos humanos que o Brasil se comprometeu a erradicar.
6. Conclusão: inscrever o climatério na pauta da dignidade
Este artigo partiu da constatação de um profundo silêncio dogmático e institucional para demonstrar que a menopausa não é uma mera transição biológica, mas um ponto de inflexão subjetivo, social e, fundamentalmente, jurídico. A jornada autoetnográfica que iniciou esta investigação revelou-se o sintoma de uma patologia coletiva: o "agnosticismo jurídico-hormonal" que submete a mulher a uma condição de hipervulnerabilidade. Essa vulnerabilidade se manifesta de forma mais aguda no cenário do "divórcio grisalho", momento em que decisões cruciais sobre patrimônio e família são tomadas por uma mulher cujo corpo e psique atravessam uma crise invisibilizada. A ausência de uma escuta qualificada, como se argumentou, não é uma omissão neutra; é um fator que compromete a autonomia e a própria dignidade, instaurando uma assimetria de gênero que se materializa nos custos financeiros e emocionais de um tratamento e de uma adaptação de vida que, naquele momento, não são impostos ao homem.
O enfrentamento dessa realidade impõe uma evolução na prática jurídica. A advocacia familiarista é, portanto, convocada a uma atuação transdisciplinar, que compreenda a importância de avaliações que transcendam o patrimônio partilhável e alcancem as dimensões emocionais e, sobretudo, fisiológicas da mulher. A resposta a essa lacuna, como se demonstrou, exige uma atuação em dupla via. Na esfera pública, o avanço de projetos legislativos como o PL 820/2024 sinaliza um tardio, mas necessário, reconhecimento da omissão estatal. Na esfera privada, contudo, a advocacia já dispõe das ferramentas para agir, construindo uma "micro-política de cuidado" por meio de instrumentos como a "Cláusula de Cuidado e Reequilíbrio Climatérico" e a aplicação estratégica dos alimentos transitórios e compensatórios.
Reconhece-se que este ensaio, de natureza qualitativa e com esteio em um estudo de caso autoetnográfico, possui limites metodológicos. Ele não esgota a complexidade do tema, mas busca inaugurar um campo de pesquisa. Sugere-se, para o futuro, o desenvolvimento de estudos quantitativos sobre o impacto econômico do climatério nos divórcios, análises jurisprudenciais aprofundadas sobre a aplicação dos alimentos em casos de doenças crônicas e investigações interdisciplinares que conectem o Direito das Famílias à medicina e à psicologia.
O envelhecimento é, em si, um projeto de vida. E o Direito das Famílias, como arquitetura normativa dos afetos e do cuidado, tem a responsabilidade inalienável de proteger essa trajetória. Falar sobre menopausa é, portanto, um imperativo de justiça. É romper o silêncio que adoece, que empobrece e que invalida. Inscrever o climatério na pauta da dignidade não é uma demanda setorial; é a condição de possibilidade para um Direito das Famílias que se pretenda, de fato, integral, ético e justo.
Referências Bibliográficas
ANDRADE, Isadora de. Menopausa no trabalho: como as empresas promovem bem-estar das mulheres. Correio do Povo, Porto Alegre, 25 jun. 2024. Bellamais. Disponível em: https://www.correiodopovo.com.br/bellamais/mulheres-50/menopausa-no-trabalho-como-as-empresas-promovem-bem-estar-das-mulheres-1.1573457. Acesso em: 27 set. 2025.
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3. ed. 17. tir. São Paulo: Malheiros, 2009.
BICALHO, Letícia. Menopausa e invisibilidade: o silenciamento institucional das mulheres maduras. Revista de Gênero e Direito, [s. l.], v. 11, n. 2, p. 1-14, 2022.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 27 set. 2025.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Projeto de Lei n. 3.933, de 2023. Estabelece o tratamento do climatério e da menopausa pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e institui a Semana Nacional de Conscientização sobre o tema. Brasília, DF: Senado Federal, 2023.
BRASIL. Congresso. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado n. 820, de 2024. Institui a Política Nacional de Atenção Integral à Mulher no Climatério e na Menopausa. Brasília, DF: Senado Federal, 2024.
BRASIL. Decreto n. 1.973, de 1º de agosto de 1996. Promulga a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 14339, 2 ago. 1996.
BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002.
BRASIL. Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher [...]. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 8 ago. 2006.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.951.351/MG. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27 jun. 2022, DJe 30 jun. 2022.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.290.313/AL. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24 set. 2013, DJe 02 out. 2013.
CALMON, Patrícia Novais. Direito das Famílias e da Pessoa Idosa. 3. ed. Indaiatuba, SP: Foco, 2025. Versão Kindle.
COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL. Seção São Paulo. O que é o divórcio cinza e por que ele está crescendo nos últimos anos. São Paulo, 24 jan. 2024. Disponível em: https://www.cnbsp.org.br/noticias/23855/o-que-e-o-divorcio-cinza-e-por-que-ele-esta-crescendo-nos-ultimos-anos. Acesso em: 26 ago. 2025.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Divórcio e parentalidade responsável. Brasília, DF: CNJ, 2021. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/08/cartilha-divorcio-parentalidade.pdf. Acesso em: 26 ago. 2025.
CRENSHAW, Kimberlé. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. University of Chicago Legal Forum, [s. l.], v. 1989, n. 1, art. 8, p. 139-167, 1989.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estatísticas de Gênero: Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.
MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024.
MENDES, Renata. Menopausa e diagnóstico tardio: uma abordagem sobre a saúde da mulher. Revista Brasileira de Ginecologia, [s. l.], v. 18, n. 1, 2023.
ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará). Belém do Pará, 1994.
RIO DE JANEIRO (Estado). Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento n. 0095092-34.2022.8.19.0000. Relator: Des. Marco Aurélio Bezerra de Melo, Décima Sexta Câmara Cível, julgado em 25 maio 2023, DJe 02 jun. 2023.
SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 1004468-97.2020.8.26.0451. Relatora: Desa. Maria Salete Corrêa Dias, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 22 jul. 2021, DJe 22 jul. 2021.
SENADO FEDERAL. Mulheres na menopausa: invisibilidade deixa tratamento fora da agenda pública. Agência Senado, Brasília, DF, 13 nov. 2023. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/11/13/mulheres-namenopausa-invisibilidade-deixa-tratamento-fora-da-agenda-publica. Acesso em: 27 set. 2025.
VERAS, Renata P.; LIMA, Cássia; FREITAS, Michelle. Menopausa e Transtornos Psíquicos: estudo ambulatorial no Instituto de Ginecologia da UFRJ. Cadernos de Saúde da Mulher, Rio de Janeiro, n. 7, p. 15-29, 2006.
[1] Advogada de Famílias e Estrategista Jurídica. Especializada em Direito pela Universidade de Passo Fundo (UPF) e especializanda em Direito das Famílias e Sucessões. Associada ao IBDFAM.
Os artigos assinados aqui publicados são inteiramente de responsabilidade de seus autores e não expressam posicionamento institucional do IBDFAM