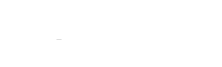Artigos
Autonomia Privada no Direito Sucessório: A Disposição Patrimonial entre Cônjuges e Conviventes e a Proposta de Reforma do Código Civil
Andressa Talon[1]
Elizangela Kaminski[2]
Cristiane Bastos Scorsato Nuncio[3]
RESUMO
O presente artigo examina os limites e possibilidades da autonomia privada no Direito Sucessório brasileiro, especialmente no contexto das disposições patrimoniais entre cônjuges e companheiros. A pesquisa parte de uma análise histórico-normativa da ingerência estatal nas relações familiares, ressaltando a herança patrimonialista do Código Civil de 1916, que reconhecia a família como um núcleo hierárquico, baseado no casamento formal e na figura masculina como gestor do patrimônio. Ainda que o Código Civil de 2002 e a Constituição de 1988 tenham promovido avanços no reconhecimento da pluralidade familiar, o campo sucessório segue marcado por restrições à liberdade dispositiva, com destaque para a proteção da legítima e a vedação aos pactos sucessórios (art. 426 do CC). No cerne do debate está a cláusula de renúncia recíproca ao direito sucessório concorrencial, cada vez mais utilizada em pactos antenupciais e contratos de convivência. Longe de configurar pacta corvina — figura tradicionalmente vedada por estimular a expectativa de morte e a antecipação de herança —, a renúncia recíproca revela-se como ato unilateral de abdicação, não oneroso, que visa à separação patrimonial plena entre parceiros, especialmente em famílias mosaico e sob regime de separação convencional de bens. A análise jurídica proposta demonstra que essa cláusula não se confunde com o contrato de herança de pessoa viva, não viola o art. 426 do CC e, ao contrário, reforça a liberdade de testar e o direito ao planejamento sucessório legítimo. O artigo também investiga a evolução da prática notarial, destacando a atuação de tabelionatos em Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, bem como a consolidação normativa da cláusula de renúncia, com base no art. 28 da Lei 8.935/94 e nas normas da Corregedoria-Geral da Justiça. Em paralelo, apresenta decisões recentes dos tribunais estaduais que reconhecem a validade da cláusula de renúncia, distinguindo-a da pacta corvina clássica. Por fim, analisa criticamente o Projeto de Lei de reforma do Código Civil na parte em que propõe a exclusão do cônjuge como herdeiro necessário. Embora a proposta amplie a liberdade dispositiva, alerta-se para os riscos de aprofundamento de desigualdades de gênero, sobretudo diante do desconhecimento da população sobre os regimes de bens e seus efeitos sucessórios. À luz do Protocolo CNJ 492/2023, sustenta-se que a reforma deve ser acompanhada de instrumentos compensatórios, campanhas educativas e medidas de proteção à mulher. O estudo conclui pela importância de um debate público qualificado que compatibilize liberdade patrimonial com justiça material, sem supressão de garantias fundamentais.
- A Evolução Histórica e a Ingerência Estatal na Sucessão:
A trajetória histórica do Direito de Família no Brasil é marcada por um longo período de conservadorismo normativo e acentuada interferência estatal nas relações afetivas e patrimoniais. A família, durante boa parte do século XX, foi concebida como uma instituição hierárquica e patrimonializada, fundada sobre o casamento formal, a autoridade masculina e a transmissão de bens às gerações futuras. Esse modelo, firmemente refletido no Código Civil de 1916, priorizava a estabilidade econômica e a continuidade da linhagem em detrimento da liberdade individual e do reconhecimento de afetos.
O legislador de 1916, influenciado por valores patriarcais e pelo pensamento jurídico de tradição romanista, estruturou a família como um ente de produção e preservação de patrimônio, no qual a figura do homem-chefe exercia autoridade exclusiva sobre os bens e os membros da entidade familiar. A autonomia privada, nesse contexto, era severamente tolhida, e a afetividade, quando existente, não encontrava qualquer respaldo normativo. As relações familiares eram modeladas por regras de conduta rígidas e hierárquicas, em que os interesses patrimoniais prevaleciam sobre os vínculos emocionais.
As consequências dessa lógica projetaram-se diretamente sobre o Direito das Sucessões. A ordem de vocação hereditária estabelecida no art. 1.603 do Código de 1916[4] previa a sucessão em classes sucessivas, em que o cônjuge sobrevivente somente era chamado à herança na ausência de descendentes e ascendentes, independentemente do regime de bens adotado. A lógica sucessória obedecia à premissa de que os vínculos consanguíneos mereciam precedência absoluta, e a posição do cônjuge – ou mesmo de um companheiro informal – era secundarizada. A valorização do sangue como critério de legitimação da vocação hereditária ilustra o quanto o afeto era juridicamente invisibilizado.
Esse modelo encontrou forte resistência com as mudanças sociais do final do século XX. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, rompeu com a centralidade do casamento e reconheceu a união estável e a família monoparental como entidades familiares legítimas, ampliando o conceito de família e afastando a exclusividade do modelo matrimonial. O princípio da dignidade da pessoa humana, alçado à condição de fundamento da República, tornou-se vetor interpretativo obrigatório no campo do Direito Privado, impondo ao legislador e ao julgador a tarefa de revisitar institutos tradicionais sob uma nova perspectiva, centrada no afeto, na igualdade e na liberdade.
Nesse novo cenário, o Código Civil de 2002 buscou atualizar o sistema, promovendo avanços pontuais. No âmbito sucessório, o art. 1.829, I[5], passou a prever a concorrência do cônjuge com os descendentes, rompendo com a lógica excludente anterior. Ainda assim, o tratamento conferido à sucessão entre cônjuges e companheiros permanece marcado por ambiguidades e restrições, que refletem a persistência de uma lógica patrimonialista e intervencionista no campo do Direito das Famílias e Sucessões.
Mesmo após a equiparação constitucional das entidades familiares e a valorização crescente do planejamento patrimonial entre afetos, o ordenamento jurídico atual ainda impõe limites rígidos à liberdade de dispor do próprio patrimônio em vida e por morte. A proteção da legítima, a vedação aos pactos sucessórios (art. 426 do CC)[6] e a resistência à renúncia sucessória prévia, mesmo em relações plenamente consensuais, demonstram que o Estado continua a exercer um papel de curadoria excessiva sobre a autonomia privada no seio das relações familiares.
Como observa Conrado Paulino da Rosa e Leonardo Barreto Moreira Alves na obra “Direito de Família Mínimo na Prática Jurídica” (2024: p.17/18), o Estado apenas deve utilizar-se do Direito de Família quando suas normas implicarem uma verdadeira melhoria na situação pessoal dos componentes da família de modo que a atuação que venha a prejudicar os direitos fundamentais deve ser sistematicamente evitada.
Assim, o panorama jurídico atual é de tensão entre a tradição e a ruptura. De um lado, subsistem regras que tutelam um modelo de família superado e restringem a liberdade de dispor da herança; de outro, emergem práticas contratuais, decisões judiciais e normas extrajudiciais que reconhecem a legitimidade da autonomia privada nas disposições patrimoniais entre cônjuges e companheiros.
- A Validade da Renúncia Recíproca no Direito Contemporâneo:
A renúncia recíproca ao direito sucessório concorrencial é exemplo paradigmático dessa nova racionalidade, tornando-se cada vez mais comum em pactos antenupciais e escrituras de união estável, especialmente entre casais que adotam o regime da separação convencional de bens. Tal renúncia, todavia, não pode ser confundida com o contrato sobre herança de pessoa viva vedado pelo art. 426 do Código Civil pois a natureza jurídica, o objeto e os efeitos desses institutos são substancialmente distintos, tanto sob a ótica dogmática quanto teleológica.
A pacta corvina, historicamente condenada pelo Direito, consiste na antecipação de direitos hereditários futuros mediante contrato bilateral com expectativa de proveito econômico em face do falecimento de determinada pessoa, sem sua participação. Seu repúdio decorre da repulsa à figura do “herdeiro-corvo” (heres corvus), que se alimenta da esperança da morte alheia para obtenção de vantagem patrimonial. Esse é o cenário clássico que ensejou a formulação do art. 426: impedir o comércio da expectativa de herança como objeto de troca ou promessa contratual.
Já a cláusula de renúncia recíproca ao direito concorrencial, tal como pactuada por cônjuges ou companheiros maiores, capazes e juridicamente assessorados, tem natureza abdicativa e não onerosa, sendo fruto do exercício consciente da autonomia privada. Não há ali qualquer expectativa de benefício com a morte do outro, nem relação de vantagem econômica futura, nem tampouco interesse de terceiros. Ao contrário, as partes manifestam a vontade de não receberem nada da herança recíproca na hipótese de concorrerem com descendentes ou ascendentes, justamente para garantir a separação patrimonial plena entre os núcleos familiares originários.
Essa renúncia não envolve contraprestação, não se qualifica como contrato bilateral, tampouco implica limitação à liberdade testamentária do autor da herança. Ao contrário, reforça essa liberdade, pois o titular dos bens poderá, se desejar, contemplar o parceiro sobrevivente por meio de testamento, sem que este último possa alegar vocação legítima concorrencial caso haja descendência.
Trata-se de um ato unilateral de abdicação, inserido em instrumento bilateral formal (pacto antenupcial ou contrato de convivência), com eficácia declarativa e preventiva.
É nesse contexto que o art. 426 deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais da liberdade, da dignidade da pessoa humana e da autonomia privada. A leitura extensiva e apriorística da norma, para abarcar toda e qualquer manifestação de renúncia futura, promove verdadeira violação ao direito de planejamento patrimonial, ferindo inclusive o art. 1.639 do Código Civil[7], que autoriza os nubentes a estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver, sem ressalva legal quanto a efeitos pós-morte.
Diante desse cenário, é incorreto invocar o art. 426 do Código Civil para anular uma manifestação de vontade lícita, legítima, não onerosa, preventiva de litígios e socialmente fundada. O pacto de renúncia recíproca à concorrência sucessória não é contrato de transmissão de herança futura, mas instrumento de separação de esferas patrimoniais, guiado pelo afeto e pela autonomia, e, portanto, não deve ser confundido com a pacta corvina proibida pela legislação.
Uma mudança silenciosa, mas altamente significativa, tem ocorrido na prática extrajudicial, especialmente nas serventias notariais, que vêm assumindo um papel de protagonismo na efetivação da autonomia privada dos casais e na consolidação de novos paradigmas contratuais e sucessórios.
Historicamente vistos como órgãos conservadores, os tabelionatos de notas passaram a se posicionar como espaços de concretização da liberdade negocial informada, acolhendo, com cautela e responsabilidade técnica, as novas demandas sociais, sobretudo aquelas ligadas ao planejamento patrimonial e afetivo. Essa evolução está ancorada no artigo 28 da Lei nº 8.935/94[8], que garante aos notários a independência no exercício de suas atribuições jurídicas, desde que atuem dentro dos limites da legalidade, da boa-fé e da segurança jurídica.
Nesse contexto, tem ganhado crescente espaço a prática de lavratura de pactos antenupciais e contratos de convivência com cláusulas de renúncia recíproca ao direito sucessório concorrencial, especialmente entre pessoas que optam pelo regime da separação convencional de bens. Esses pactos, longe de afrontarem o ordenamento jurídico, expressam a autonomia consciente e qualificada de sujeitos que desejam manter a separação patrimonial em vida e após a morte, excluindo a hipótese legal de concorrência hereditária com descendentes ou ascendentes (art. 1.829, I e II, do CC).
A aceitação notarial desse tipo de cláusula, embora ainda não seja uniforme, vem sendo consolidada em normas estaduais de organização extrajudicial, com destaque para o Provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro (CGJ/RJ – 2025), que, em sua Parte Extrajudicial, art. 390, §3º, autoriza expressamente a inserção da renúncia ao direito concorrencial na escritura de união estável: “§ 3º. A cláusula de renúncia ao direito concorrencial (art. 1.829, I, do CC) poderá constar do ato a pedido das partes, desde que advertidas quanto à sua controvertida eficácia.”
Essa previsão é de enorme relevância, pois representa uma guinada institucional em direção à valorização da vontade das partes e ao respeito à pluralidade familiar, ao mesmo tempo em que mantém o compromisso com a informação e a prevenção de litígios. A advertência quanto à “controvertida eficácia” é suficiente para garantir que a cláusula seja celebrada com plena consciência de seus limites e riscos, sem que isso implique nulidade ou ilicitude do ato jurídico.
A prática já é adotada, por exemplo, pelo 1º Tabelionato de Notas de Balneário Camboriú/SC, que elabora minutas com redação sofisticada, deixando registrado que:
Pelas partes me foi dito ainda que tem conhecimento e estão cientes do contido nos Artigos 1845 do Código Civil Brasileiro, no qual estabelece que o cônjuge/companheiro é herdeiro necessário, nos termos do Art 1829, I, do mesmo instituto, no qual defere a ordem para a sucessão hereditária, cabendo ao descendente a concorrência com o cônjuge/companheiro; bem como o disposto no Artigo 426 do Código Civil Brasileiro, segundo o qual não se pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva, entretanto manifestam nesta data que: i) é de vontade de ambos não participarem de futura sucessão um do outro, quando em concorrência com os descendentes ou ascendentes, restando afastada assim, a regra de concorrência dos incisos I e II, do Art. 1.829 do Código Civil, uma vez que ambos tem seus patrimônios totalmente separados, não desejando, nem por sucessão, caso exista concorrência, receberem patrimônio um do outro; ii) desejam permanecer na sucessão um do outro quando não houver descendentes, nem ascendentes, e o cônjuge sobrevivente for o único herdeiro, chamado a suceder como herdeiro universal e necessário;
Em São Paulo, o 29º Tabelionato de Notas adota modelo semelhante, com linguagem ainda mais precisa, referenciando inclusive jurisprudência estadual favorável ao tema[9] e esclarecendo que as partes foram advertidas quanto à divergência doutrinária e jurisprudencial.
Tais práticas demonstram que a atividade notarial não é mero instrumento de formalização, mas também de interpretação qualificada da realidade social, de integração dos princípios constitucionais à vida privada e de concretização do direito de família mínimo.
A evolução da prática notarial revela, portanto, um caminho irreversível de abertura à autonomia privada, sustentado na experiência jurídica e na legitimidade institucional da atividade extrajudicial. Esse movimento, embora ainda enfrentado por setores mais conservadores da doutrina, revela a maturidade da sociedade brasileira na construção de um Direito das Famílias e Sucessões mais condizente com a realidade plural dos vínculos afetivos e patrimoniais contemporâneos.
Por outro lado, o Judiciário brasileiro, embora tradicionalmente cauteloso quanto à flexibilização das normas sucessórias, tem começado a reconhecer a validade e a eficácia de cláusulas de renúncia recíproca ao direito sucessório concorrencial inseridas em pactos antenupciais e contratos de convivência. Trata-se de uma mudança paulatina, mas significativa, que sinaliza uma transição do paradigma protetivo-patrimonialista para uma leitura constitucionalizada do Direito das Sucessões, fundada na autonomia privada, na dignidade da pessoa humana e no direito ao planejamento patrimonial.
Historicamente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou orientação restritiva, declarando nulas cláusulas que envolvessem disposição de herança de pessoa viva, como se vê no Agravo Interno no Recurso Especial n. 1341825/SC[10], em que a Corte reforçou que a cessão de direitos hereditários somente pode ocorrer após a abertura da sucessão, rechaçando, assim, qualquer antecipação contratual que configure “pacto sucessório”. Entretanto, esse entendimento pode começar a ser tensionado por decisões inovadoras em instâncias estaduais, as quais melhor compreendem as nuances da cláusula de renúncia à concorrência sucessória como expressão legítima da vontade privada.
Um exemplo emblemático é o recente julgamento da Apelação Cível n. 1000348-35.2024.8.26.0236, pelo Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo[11] que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso para julgar improcedente a dúvida e determinar o registro do pacto antenupcial. No voto condutor, o Desembargador Francisco Loureiro, Corregedor Geral da Justiça, reconheceu que a cláusula de renúncia recíproca ao direito concorrencial não configura contrato sobre herança de pessoa viva, por não se tratar de disposição patrimonial onerosa, mas de manifestação de vontade abdicativa e lícita. O julgador ressaltou que:
ao renunciar à herança, o renunciante abre mão de qualquer benefício que poderia ter com o falecimento do autor da herança. Ao contrário da pacta corvina, a renúncia à herança não deve despertar qualquer desejo de morte do autor da herança, quando do contrário, estaria em acordo com um projeto de vida e de planejamento familiar.
Essa decisão vem sendo citada, inclusive, em minutas de tabelionatos de notas que lavram tais cláusulas, sinalizando sua importância como precedente formador de nova mentalidade jurídica.
Outra decisão paradigmática foi proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no Agravo de Instrumento n. 5049868-47.2022.8.24.0000, relatado pelo Desembargador José Agenor de Aragão, em 09 de dezembro de 2024[12]. O julgado tratou da validade de cláusula constante em escritura pública de união estável, pela qual os conviventes renunciavam, de forma expressa, ao direito de concorrer à herança um do outro quando houvessem descendentes ou ascendentes. A parte agravante sustentava que tal cláusula seria nula por violar o art. 426 do Código Civil, mas a Corte catarinense, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da agravante, rechaçou o argumento, afirmando de modo categórico que não se trata de renúncia à herança de pessoa viva, mas sim de renúncia ao direito de concorrer com herdeiros de primeira classe (descendentes e ascendentes) na sucessão. E considerando que os contratantes eram maiores e capazes, não haveria qualquer alegação de causa de anulabilidade do pacto.
Esses precedentes representam um importante avanço rumo à civil-constitucionalização do direito sucessório, e demonstram a necessidade de se distinguir, com clareza, a pacta corvina clássica – com seu conteúdo oneroso, especulativo e moralmente reprovável – das renúncias abdicativas recíprocas firmadas entre parceiros afetivos, que buscam assegurar a manutenção da separação patrimonial e evitar disputas entre famílias mosaico.
- Uma Leitura Crítica da Reforma do Código Civil quanto à Exclusão do Cônjuge como Herdeiro Necessário
A apresentação do Projeto de Lei que propõe relevantes alterações no Livro V do Código Civil, especialmente no que tange à ordem de vocação hereditária, marca um novo capítulo no debate sobre os limites e alcances da autonomia privada no direito sucessório brasileiro. Um dos pontos centrais da proposta legislativa é a retirada do cônjuge do rol dos herdeiros necessários, o que, em termos práticos, significa que o cônjuge sobrevivente somente será chamado à herança na ausência de descendentes ou ascendentes, sem gozar de qualquer parcela da legítima.
À primeira vista, o projeto de lei representa uma resposta à crítica doutrinária de que a inclusão do cônjuge como herdeiro necessário limita injustificadamente a liberdade de dispor do próprio patrimônio, mesmo em relações nas quais não subsiste mais qualquer vínculo afetivo ou econômico relevante. De fato, a proposta parece buscar ampliar os horizontes da autonomia privada, autorizando que os indivíduos planejem sua sucessão sem o constrangimento legal de reservar parcela de seus bens ao cônjuge sobrevivente.
Contudo, embora o Projeto de reforma do Código Civil possa, em tese, constituir um avanço no reconhecimento da liberdade dispositiva, ele carrega o risco concreto de aprofundar desigualdades históricas, sobretudo quando considerado o contexto social brasileiro, no qual as relações patrimoniais entre cônjuges ainda são profundamente marcadas por assimetrias de gênero.
Em um país onde as mulheres ainda assumem majoritariamente as funções de cuidado, abdicam ou limitam suas trajetórias profissionais em favor da estrutura familiar e enfrentam obstáculos para a construção de patrimônio próprio, a exclusão do cônjuge sobrevivente da proteção sucessória concorrencial pode representar, na prática, um novo ciclo de invisibilização e desamparo.
Essa é uma crítica que precisa ser feita com clareza e responsabilidade, sobretudo à luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, 492/2023), que orienta magistrados a considerar os impactos diferenciados das normas jurídicas sobre homens e mulheres, de modo a promover decisões mais equitativas e alinhadas aos compromissos constitucionais de igualdade material.
Sob essa lente, a retirada da condição de herdeiro necessário do cônjuge não pode ser tratada como avanço automático. Se, por um lado, amplia a liberdade sucessória, por outro, demanda instrumentos eficazes de educação jurídica e proteção patrimonial preventiva, sobretudo para mulheres em contextos de vulnerabilidade ou dependência econômica. O risco é que a aparente promoção da autonomia se converta, na realidade, em um mecanismo de perpetuação do patriarcado por omissão do Estado.
Além disso, a reforma ignora um dado cultural relevante: a maioria dos brasileiros desconhece os efeitos práticos dos regimes de bens e de sua relação com a sucessão. As decisões sobre o regime patrimonial costumam ser tomadas de forma superficial, muitas vezes no balcão do cartório, sem orientação jurídica efetiva. Em famílias mosaico ou recompostas – nas quais cada parceiro traz filhos e patrimônio de relações anteriores –, as lacunas de informação jurídica podem gerar consequências sucessórias devastadoras, com exclusão não intencional do cônjuge da herança ou disputa entre herdeiros consanguíneos e afetivos.
É por isso que a discussão sobre o indigitado Projeto de Lei que visa à reforma do Código Civil não pode ser feita apenas sob o prisma da autonomia privada abstrata, mas exige um debate sensível e contextualizado, que considere as desigualdades materiais, os padrões culturais e as práticas concretas que estruturam as relações familiares no Brasil. Não basta promover a liberdade dispositiva; é preciso garantir que, de fato, ela seja exercida com consciência, equilíbrio e justiça.
Caso o Brasil opte pela aprovação do projeto na forma em que se encontra, deverá antecipar-se às consequências sociais como, por exemplo, criar campanhas informativas e mecanismos legais compensatórios e indenizatórios nos casos de exclusão sem planejamento adequado, sob pena de agravar desigualdades já institucionalizadas.
Em suma, a proposta de reforma do Código Civil, no que diz respeito à possibilidade sucessória do cônjuge, deve ser lida não como um fim em si mesma, mas como parte de um processo mais amplo de adequação do Direito das Sucessões à luz da dignidade da pessoa humana, da pluralidade familiar e da equidade de gênero.
É imprescindível que o avanço da liberdade dispositiva seja acompanhado de um debate público qualificado, ancorado na realidade social brasileira e comprometido com a preservação de direitos já consolidados.
A crítica que aqui se formula diz respeito, em especial, à proposta de exclusão do cônjuge da condição de herdeiro necessário, tal como previsto no projeto de reforma do Código Civil, medida que, embora formalmente ampliadora da autonomia privada, pode, na prática, produzir impactos desiguais e prejudiciais, sobretudo em relações marcadas por desequilíbrio econômico e dependência estrutural, ainda muito presentes no contexto feminino.
Os debates sobre essas importantes alterações precisam visar a uma adaptação equilibrada, que amplie liberdades sem suprimir proteções, refletindo os valores constitucionais da dignidade, da igualdade e da solidariedade nas múltiplas formas de família existentes na sociedade contemporânea.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 10 abr. 2025.
BRASIL. Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Regula os serviços notariais e de registro. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 21 nov. 1994. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm. Acesso em: 10 abr. 2025.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. Portaria CNJ nº 27, de 17 de abril de 2023. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf Acesso em: 15 abr. 2025.
ROSA, Conrado Paulino da; ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Direito de Família Mínimo na Prática Jurídica. 2. ed., ver. e atual. São Paulo: Juspodivm, 2024.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Brasil). AgInt no REsp n. 1.341.825/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 15 dez. 2016, DJe 10 fev. 2017.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Agravo de Instrumento n. 5049868-47.2022.8.24.0000, Rel. Des. José Agenor de Aragão, j. 09 dez. 2024.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Apelação Cível n. 1000348-35.2024.8.26.0236, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 01 out. 2024. Conselho Superior da Magistratura.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça – Parte Extrajudicial. Atualizado em 04 abr. 2025. Disponível em: https://www.tjrj.jus.br/documents/d/cgj/codigo_de_normas_extrajudicial_anotado_compilado_autalizado_em_04-04-2025_com_sumario. Acesso em: 10 abr. 2025.
[1] Graduada em Direito pela Uniplac Lages/SC, especialista em Direito Público pela Escola da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul (ESMAFE/RS) e Docência no Ensino Superior, pela Uniasselvi. Advogada especializada em família e sucessões desde 2014, Secretária da Comissão de Direito das Famílias de Balneário Camboriú/SC, membro da Comissão de Direito Sucessório IBDFAM/SC
[2]Graduada em Direito, instituição UCS Caxias do Sul, Administração, instituição UPF Passo Fundo, especializações em: MBA Gestão Empresarial, instituição FGV Rio de Janeiro, Família e Sucessões, instituição UNICESUSC - Florianópolis. Advogada especializada em família e sucessões. Conselheira e Presidente da Comissão de Direito de Família da OAB de Balneário Camboriú (SC), gestão 25-27.
[3] Graduada em Direito, instituição Universidade de Passo Fundo, especializações em Processo Civil, instituição IMED, Família e Sucessões, Trabalho e Processo do Trabalho, ambas na instituição UNIDERP. Professora Centro Universitário Avantis desde 2015
[4] Art. 1.603. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
I - Aos descendentes.
II - Aos ascendentes.
III - Ao cônjuge sobrevivente.
IV - Aos colaterais.
V - aos Municípios, ao Distrito Federal ou à União
[5] Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;
[6] Art. 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva.
[7] Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver.
[8] Art. 28. Os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei.
[9] TJSP. Conselho Superior da Magistratura. Apelação Cível n. 1000348-35.2024.8.26.0236, Desembargador Relator Francisco Loureiro, 1º de outubro de 2024.
[10] AgInt no REsp n. 1.341.825/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 10/2/2017.
[11] TJSP. Conselho Superior da Magistratura. Apelação Cível n. 1000348-35.2024.8.26.0236, Desembargador Relator Francisco Loureiro. Data do julgamento 01/10/2024.
[12] TJSC. Agravo de Instrumento n. 5049868-47.2022.8.24.0000, Desembargador Relator José Agenor de Aragão. Data do julgamento 09/12/2024.
Os artigos assinados aqui publicados são inteiramente de responsabilidade de seus autores e não expressam posicionamento institucional do IBDFAM