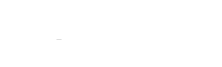Artigos
Pais em Conflito, Filhos em Risco: Como os Litígios Familiares Afetam a Formação Psicológica Infantil
Aline Alves de Matos[1]
RESUMO
Os conflitos familiares decorrentes da separação ou do divórcio nem sempre se limitam à dissolução conjugal, estendendo-se ao exercício da parentalidade e afetando diretamente o desenvolvimento dos filhos. Este artigo analisa como os litígios familiares intensos, muitas vezes marcados por disputas judiciais prolongadas e comportamentos hostis entre os genitores, podem comprometer a formação emocional e psicológica de crianças e adolescentes. Discutem-se os efeitos negativos desse ambiente conflituoso, incluindo insegurança afetiva, sentimentos de culpa e dificuldades de socialização, além da importância da conscientização parental e do papel dos profissionais do Direito das Famílias na mediação e prevenção de danos. Também são abordadas práticas de cooperação que contribuem para reduzir os impactos do conflito, promovendo o bem-estar dos filhos mesmo em contextos de ruptura conjugal.
Palavras-chave: conflito familiar, separação, litígio, impacto psicológico, parentalidade consciente.
ABSTRACT
Family conflicts resulting from separation or divorce often extend beyond the end of the marital relationship, affecting the exercise of parenthood and directly impacting the development of children and adolescents. This article analyzes how intense family disputes—often marked by prolonged legal battles and hostile behavior between parents—can compromise the emotional and psychological development of minors. The study discusses the negative effects of such environments, including emotional insecurity, feelings of guilt, and socialization difficulties. It also highlights the importance of parental awareness and the role of family law professionals in preventing and mediating harm. Additionally, it addresses cooperative practices that help reduce the impact of conflict, promoting the well-being of children even in the context of marital breakdown.
Keywords: family conflict, separation, litigation, psychological impact, conscious parenting.
1.Introdução
O divórcio se tornou um acontecimento cada vez mais comum nos últimos anos. Em muitos casos, os casais deixam de investir na resolução dos conflitos e na reconstrução dos vínculos familiares, optando pela ruptura sem considerar, de forma adequada, as consequências que essa decisão pode acarretar na vida dos filhos. A ausência de diálogo e a falta de preparo emocional para lidar com o fim da conjugalidade acabam, muitas vezes, expondo as crianças a situações de vulnerabilidade emocional e psicológica.
Nesse contexto, ainda persiste uma grande dificuldade em dissociar a conjugalidade da parentalidade. Muitos pais, ao confundir o fim da relação conjugal com o rompimento do papel parental, transferem suas mágoas e frustrações pessoais para a convivência com os filhos. Essa postura gera impactos profundos no desenvolvimento infantil, uma vez que as crianças e adolescentes acabam carregando o peso dos conflitos, das disputas e das instabilidades causadas por relações mal resolvidas entre os genitores.
Compreender essa diferença entre conjugalidade e parentalidade é essencial para que os pais consigam exercer uma parentalidade mais saudável e consciente, minimizando os impactos psicológicos na vida de crianças e adolescentes. Somente a partir desse entendimento é possível romper com padrões disfuncionais e evitar que esses ciclos de conflito se repitam na vida adulta dos filhos.
2.Entre o fim da conjugalidade e a continuidade da parentalidade
O principal fator que alimenta os conflitos familiares está na transição do fim da conjugalidade para o início da parentalidade compartilhada. Muitos casais carregam mágoas e ressentimentos acumulados durante a relação conjugal e acabam transferindo essas emoções para os filhos, transformando crianças e adolescentes em moedas de troca ou até mesmo em mensageiros involuntários dessa disputa. Esse cenário configura uma competição prejudicial, na qual cada genitor tenta impor sua vontade, muitas vezes sem considerar o impacto emocional que essa dinâmica pode causar no desenvolvimento dos filhos.
Nessa disputa de poder, os genitores chegam a impor autorizações ou desautorizações que vão muito além do razoável, buscando validar seus sentimentos de controle e domínio sobre o outro. Essa dinâmica coloca a criança em um papel desconfortável, submetendo-a a situações marcadas por egoísmo e imposições, que desconsideram suas necessidades e fragilidades emocionais. Assim, os filhos acabam se tornando vítimas indiretas dessa guerra parental, sofrendo as consequências de um conflito que não lhes pertence.
É fundamental que os pais compreendam que o rompimento ocorreu entre eles enquanto casal, mas que a parentalidade permanece como uma responsabilidade compartilhada e contínua. Muitas vezes, esquecem que os problemas e conflitos são originários da relação entre os genitores, e que as crianças não têm qualquer relação direta com essas situações. Ao dissociar a conjugalidade da parentalidade, os pais podem exercer seu papel de forma mais saudável, protegendo o bem-estar emocional dos filhos e evitando que eles sejam usados como instrumentos de disputa.
O problema é que, muitas vezes, os pais só percebem o mal causado aos filhos quando já é evidente o impacto negativo em suas vidas. Crianças e adolescentes expostos a esse ambiente conflituoso podem desenvolver quadros de ansiedade, apresentar dificuldades de aprendizagem e enfrentar desafios nos relacionamentos interpessoais. Esses sintomas refletem o sofrimento silencioso que carregam, consequência direta do desgaste emocional provocado pelas disputas parentais.
Diversos estudos nas áreas da psicologia e do desenvolvimento infantil apontam que os conflitos familiares intensos, especialmente quando prolongados e marcados por hostilidade entre os genitores, afetam diretamente a saúde emocional e o comportamento das crianças. O ambiente familiar instável, permeado por tensão e insegurança, compromete não apenas a formação emocional imediata, mas também a estrutura psíquica que levarão para a vida adulta.
Por outro lado, quando os pais, mesmo após a separação, compreendem que o bem-estar dos filhos deve estar acima das divergências conjugais, os efeitos são significativamente mais positivos. O diálogo constante, o respeito mútuo e a manutenção de uma convivência saudável contribuem para que a criança entenda, de forma segura, que a separação diz respeito apenas ao casal — e não à sua relação com o pai ou a mãe. Nessas circunstâncias, os filhos reconhecem que, embora os pais não estejam mais juntos, continuam presentes, amorosos e comprometidos com sua criação. Essa postura evita rupturas afetivas e oferece um ambiente emocional mais estável, no qual é possível crescer com segurança, afeto e equilíbrio.
3.O impacto psicológico dos litígios familiares em crianças e adolescentes
Os litígios familiares, especialmente aqueles marcados por disputas prolongadas e ausência de diálogo entre os genitores, geram impactos significativos na saúde emocional e no desenvolvimento psíquico de crianças e adolescentes. Na prática, é comum encontrar menores que, submetidos a esse ambiente conflituoso, desenvolvem sintomas como ansiedade, medo constante, insegurança afetiva e até dificuldades de aprendizagem.
Neste sentindo corrobora o entendimento de ROSA (2024, p.13)
...toda essa sentimentalidade negativa é projetada nas ações de família, sob a forma de pretensões punitivas, egoísticas ou egolátricas, com a absoluta certeza de razão própria e de erros alheios. Caberá, então, ao Estado – por meio de um agente não qualificado psicologicamente, que é o juiz- determinar a aplicação da lei , de forma imparcial e justa.
Muitos são levados a sessões de terapia escolar ou psicológica por apresentarem queda no rendimento escolar, alterações de humor, comportamentos regressivos ou dificuldade em estabelecer vínculos com colegas e adultos. Esses sinais, por vezes silenciosos, refletem o sofrimento emocional decorrente da instabilidade familiar, onde a criança não encontra espaço seguro para se expressar ou simplesmente ser criança.
Esse tipo de conduta parental, ainda que muitas vezes praticada de forma inconsciente, rompe com o princípio do melhor interesse da criança e compromete seriamente sua estrutura emocional. O filho, colocado no centro de um embate que não compreende, passa a vivenciar sentimentos de culpa, confusão e insegurança quanto ao seu lugar nas relações familiares. Além disso, o afastamento de um dos genitores pode gerar lacunas afetivas difíceis de reparar, afetando diretamente a construção da identidade e da autoestima da criança. Quando o afeto é condicionado à lealdade a apenas um dos pais, perde-se a oportunidade de oferecer uma base segura e equilibrada para o desenvolvimento saudável do menor.
Do ponto de vista psicológico, crianças expostas a conflitos parentais intensos podem desenvolver quadros de ansiedade, depressão e dificuldades de aprendizagem. A teoria do apego de John Bowlby (2002) explica que “a segurança emocional da criança depende de vínculos estáveis e previsíveis. Litígios prolongados fragilizam essa base, gerando sentimentos de abandono e insegurança.”.
Da mesma forma, a ecologia do desenvolvimento humano de Urie Bronfenbrenner (2011) “mostra como o ambiente familiar em constante conflito afeta negativamente os diferentes sistemas de desenvolvimento da criança.”.
Em casos extremos, a alienação parental, definida pela Lei nº 12.318/2010, caracteriza-se pela manipulação da criança para prejudicar o vínculo com um dos genitores, acarretando danos psíquicos duradouros. Conforme observa Buosi (2023), “tal prática gera mágoa e pode comprometer a formação saudável do indivíduo.”.
Diante de todos esses impactos, é urgente que pais, profissionais e o próprio sistema de justiça compreendam que a exposição contínua da criança a conflitos familiares não é apenas uma consequência natural da separação, mas uma forma de negligência emocional. Proteger os filhos vai muito além de garantir pensão, escola ou convívio, é oferecer estabilidade emocional, segurança afetiva e um ambiente onde o amor parental não seja condicionado por disputas. Investir em relações parentais saudáveis, mesmo após o término da vida conjugal, é uma responsabilidade que deve ser assumida com maturidade e consciência, como um verdadeiro ato de amor e cuidado.
4.A responsabilidade conjunta dos genitores e dos profissionais envolvidos
A proteção integral da criança e do adolescente, especialmente em contextos de separação e conflito familiar, não é dever exclusivo dos pais, mas uma responsabilidade compartilhada entre os genitores e todos os profissionais que atuam direta ou indiretamente na vida da família. É essencial que os pais compreendam seu papel como pilares emocionais dos filhos, mesmo após o fim da conjugalidade, e que os profissionais do Direito, da Psicologia, do Serviço Social e da Educação atuem de forma ética, sensível e integrada na prevenção e na mediação de danos emocionais.
Mais do que a conscientização dos pais, é indispensável a atuação de equipes interdisciplinares que ofereçam suporte adequado às crianças e adolescentes envolvidos em contextos de conflito familiar. Psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e profissionais do Direito precisam atuar de forma conjunta, com sensibilidade e compromisso, para acolher as demandas emocionais desses menores e auxiliar os pais na construção de uma parentalidade mais equilibrada. Esse apoio integrado contribui significativamente para a preservação da saúde mental dos filhos e para a superação dos efeitos negativos gerados pelos litígios.
A corresponsabilidade parental implica que ambos os pais devem zelar pela proteção integral da criança, evitando que os conflitos pessoais contaminem a experiência da infância. Conforme dispõe o ECA (art. 4º), é dever da família assegurar, com absoluta prioridade, os direitos da criança, o que inclui a proteção contra negligência, discriminação e violência psicológica.
Maria Berenice Dias (2022) observa que “a guarda compartilhada não é apenas um instituto jurídico, mas também um instrumento de promoção do melhor interesse da criança, exigindo maturidade e cooperação entre os genitores.”.
Conclui-se, portanto, que enfrentar os impactos dos conflitos familiares na vida dos filhos exige mais do que boa vontade individual: requer responsabilidade, empatia e atuação coordenada. Quando pais e profissionais caminham juntos, colocando o bem-estar da criança e do adolescente no centro das decisões, é possível transformar um cenário de ruptura em uma oportunidade de cuidado, aprendizado e reconstrução afetiva. Somente assim se constrói, de fato, uma rede de proteção eficaz e humanizada.
5.Caminhos possíveis para redução de danos psicológicos
Diante dos inúmeros prejuízos emocionais que os conflitos familiares podem causar aos filhos, torna-se indispensável refletir sobre estratégias que minimizem esses danos e promovam um ambiente mais saudável, mesmo após a separação dos pais. O foco deve ser deslocado do embate para o cuidado, priorizando práticas que favoreçam o diálogo, a escuta ativa e o exercício responsável da parentalidade. Nesse contexto, a adoção de métodos como a parentalidade positiva, a mediação familiar e a construção de acordos cooperativos surgem como alternativas eficazes para proteger a criança do desgaste emocional gerado por disputas judiciais e relacionais.
É altamente recomendável a aplicação dos princípios da parentalidade positiva, que propõe uma forma consciente e respeitosa de educar, acolher e orientar os filhos. Essa abordagem incentiva os pais a extrair o que há de melhor em si mesmos — valores, virtudes e atitudes construtivas — e depositar isso na relação com os filhos, como forma de fortalecer vínculos afetivos e promover o desenvolvimento saudável. Ao focar nos aspectos positivos e no exemplo diário, os pais contribuem para formar indivíduos mais seguros, empáticos e emocionalmente equilibrados, mesmo em contextos de separação.
A mediação familiar deve ser conduzida por profissionais qualificados, capazes de oferecer não apenas uma escuta técnica, mas também suporte emocional adequado às partes envolvidas. Trata-se de um recurso valioso, especialmente em momentos delicados e desafiadores, pois possibilita a construção de soluções mais conscientes e colaborativas, reduzindo o desgaste emocional e jurídico do conflito. Quando bem orientada, a mediação promove o diálogo, a empatia e o resgate da responsabilidade parental, sempre com foco no melhor interesse dos filhos.
Estratégias como mediação familiar e programas de parentalidade positiva, reconhecidos pela Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, oferecem alternativas ao litígio judicial, promovendo a corresponsabilidade e priorizando a proteção da criança.
Estudos de Kelly e Emery (2003) apontam que “crianças cujos pais conseguem cooperar, mesmo após o divórcio, apresentam maior resiliência emocional, ao passo que ambientes litigiosos prolongados aumentam significativamente os riscos de dificuldades psicológicas.”.
Por fim, a construção de acordos cooperativos e personalizados é fundamental para garantir um ambiente familiar mais saudável após a separação. Famílias que se mostram flexíveis, abertas ao diálogo e verdadeiramente comprometidas com o melhor interesse da criança e do adolescente conseguem estabelecer rotinas e decisões mais equilibradas, ajustadas à realidade de todos os envolvidos. Esses acordos não apenas reduzem os conflitos, como também fortalecem a corresponsabilidade parental, promovendo estabilidade emocional para os filhos. Quando pais se unem, mesmo separados, em prol do bem-estar dos filhos, constroem um legado afetivo que ultrapassa qualquer vínculo conjugal desfeito.
Conclusão
A separação dos pais, por si só, não precisa ser um evento traumático na vida dos filhos. O verdadeiro risco surge quando o conflito entre os genitores se estende para além do rompimento conjugal e contamina a parentalidade, transformando o ambiente familiar em um campo de disputa. Ao colocar os filhos no centro das mágoas e frustrações, pais em conflito comprometem não apenas o bem-estar imediato das crianças, mas também sua formação emocional e psicológica, perpetuando ciclos de dor que podem se estender até a vida adulta.
Neste cenário, torna-se indispensável que os genitores compreendam a permanência do vínculo parental e assumam com maturidade a responsabilidade conjunta na criação dos filhos. Do mesmo modo, é fundamental que profissionais do Direito, da Psicologia, da Assistência Social e da Educação atuem de forma integrada e humanizada, reconhecendo os sinais de sofrimento infantil e oferecendo suporte técnico e emocional às famílias.
As estratégias de cuidado, como a parentalidade positiva, a mediação familiar e a construção de acordos cooperativos, não são soluções utópicas, mas ferramentas concretas que permitem ressignificar a experiência da separação e priorizar o melhor interesse da criança. Quando o amor pelos filhos é colocado acima do orgulho, da disputa e do ressentimento, há espaço para construir um ambiente mais saudável, no qual mesmo os laços desfeitos podem dar origem a novas formas de convivência e afeto.
Em última análise, o divórcio pode marcar o fim de uma história conjugal, mas jamais deve significar o rompimento da parentalidade. A maturidade dos pais em separar suas dores pessoais da responsabilidade com os filhos é o que define se a separação será lembrada como uma cicatriz traumática ou como uma oportunidade de crescimento. O compromisso de proteger crianças e adolescentes não é apenas jurídico, mas sobretudo ético e humano: quando os genitores escolhem a cooperação em vez do confronto, oferecem aos filhos não apenas estabilidade emocional, mas também um legado de amor, resiliência e esperança para a vida adulta.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BOWLBY, John. Apego e perda. Vol. 1. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
BRONFENBRENNER, Urie. A ecologia do desenvolvimento humano: Experimentos naturais e planejados. Porto Alegre: Artmed, 2011.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Proteção da Criança na Dissolução da Sociedade Conjugal.. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/2022/04/eixo2-primeira-infancia-relatorio-final.pdf. Acesso em 19/06/2024.
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 13. ed. São Paulo: RT, 2022.
KELLY, Joan B.; EMERY, Robert E. Children’s Adjustment Following Divorce: Risk and Resilience Perspectives. Family Relations, v. 52, n. 4, p. 352-362, 2003.
MATURANA, Ana Cássia. Os efeitos do divórcio na vida das crianças. Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2010/09/opiniao-os-efeitos-do-divorcio-na-vida-das-criancas.html. Acesso em 19/06/2024.
ROSA, Conrado Paulino da. Ações de Família na Prática/ Conrado Paulino Rosa e Cristiano Chaves de Farias- São Paulo: Editora JusPodivm, 2024.
[1] Advogada especializada em Direito de Família e Sucessões. Graduada pela Faculdade de Direito Santo Agostinho. Ampla experiência na resolução de questões familiares e sucessórias. Suporte jurídico eficiente e humanizado.
Os artigos assinados aqui publicados são inteiramente de responsabilidade de seus autores e não expressam posicionamento institucional do IBDFAM