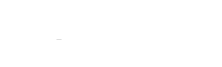Artigos
A autonomia da vontade no direito de família à luz dos contratos paraconjugais
1 INTRODUÇÃO
A promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988 trouxe consigo a consagração de princípios essenciais ao Direito, como o da “autonomia da vontade privada”, previsto no Art. 5° inciso II. Tal princípio dá ao indivíduo todo o poder de autodeterminação, quanto às suas escolhas pessoais ou jurídicas. Há diversas conceituações para o princípio, pois sua aplicação é muito abrangente, mas esse trabalho trará conceitos doutrinários apoiados no direito de família.
É certo que o direito de família tem passado por diversas mudanças no decorrer dos anos, por isso é importante estabelecer uma contextualização quanto à evolução dos núcleos familiares, de forma breve. Trazendo uma abordagem que vai desde o século XX sobre os modelos familiares aceitos, até as formas de concepção da família e as diferentes relações afetivas existentes.
Para esse artigo, além de compreender a formação da família, se faz necessário o estudo da conjugalidade e os relacionamentos afetivos sexuais na atualidade demonstrando fundamentadamente a fragilidade de que alguns relacionamentos são dotados e, devido a isso, o número de divórcios e rompimentos tem aumentado gradativamente.
Na obra cinematográfica “A história de um casamento” (2019), os personagens Charlie e Nicole são um casal que por conta de problemas de convivência envolvendo manias e comportamentos pessoais dentro do contexto do casamento são levados ao divórcio. Nicole é uma atriz famosa no filme que deixa a sua carreira em segundo plano para se dedicar à criação do filho do casal. A citação desse filme é pertinente porque nos faz refletir, se de alguma forma o direito poderia intervir, para buscar preservar essa relação, sendo que no filme fica demonstrado que há amor entre o casal, mas os problemas de convivência tomam papel mais importante do que a resistência do relacionamento.
Diante desses fatos, é possível buscar uma alternativa dentro do direito para prevenção desses rompimentos. Para isso, é essencial o entendimento da contratualização do direito de famílias e como ela pode ser benéfica para essas relações afetivas e familiares. A contratualização do direito de família pode se concretizar através contratos de namoro, contrato de união estável, contrato de gestação por substituição e diversos outros.
Mas, o foco principal deste artigo é a contratualização da conjugalidade, sendo que através do princípio da autonomia da vontade privada, é possível modular a conjugalidade através de um contrato particular, que conterá cláusulas pessoais e patrimoniais estipuladas pelo casal que irão gerar direitos e deveres recíprocos, podendo versar sobre os mais variados temas, como, por exemplo, dever de fidelidade, coabitação, estilo de vida, criação dos filhos, o contrato paraconjugal tem possibilidades infinitas, de acordo com a necessidade do casal, desde que estejam dentro da lei.
Esse contrato deverá seguir algumas orientações dispostas neste trabalho e nas doutrinas abordadas e não deve ser igualado ao pacto antenupcial, instituto que comumente pode ser confundido com o contrato paraconjugal. Algumas diferenças pontuais devem ser observadas para definir qual o melhor instituto a ser utilizado em cada caso, de acordo com a necessidade do casal.
A metodologia empregada neste trabalho é a hipotético-dedutiva, fundamentada em uma revisão bibliográfica abrangente e criteriosa. O estudo parte da hipótese de que a contratualização da conjugalidade, baseada no princípio da autonomia da vontade privada, pode ser uma alternativa eficaz para prevenir rompimentos e fortalecer relações afetivas no contexto do direito de família contemporâneo. Para investigar essa proposição, será realizada uma análise de fontes doutrinárias, jurisprudenciais e legislativas pertinentes ao tema, abordando a evolução histórica dos núcleos familiares, os conceitos de conjugalidade e as tendências atuais em um relacionamento.
2 A CONJUGALIDADE E O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE
Os núcleos familiares estão em constante evolução. A partir dessa premissa, o presente capítulo tem por objetivo demonstrar um breve histórico das uniões afetivas, como casamento, união estável e concubinato, sua conceituação e a relação com o princípio da autonomia da vontade para realçar a relevância da autonomia de um casal de modular a própria conjugalidade como preferirem.
A família é uma das instituições mais antigas do mundo. Na antiguidade, o casamento era a única forma de iniciar uma família e a modalidade predominante era a família patriarcal. No entendimento de Rodrigo da Cunha Pereira (2022, p. 22), a família patriarcal “é a família em que a autoridade e os direitos sobre os bens e as pessoas se concentram nas mãos do pai. Além de uma patrilinearidade, é um sistema social político e jurídico que vigorou no mundo ocidental até o século XX”. Ou seja, era um modelo onde o “pater” tinha todo o poder de decisão em suas mãos e a mãe/esposa e os filhos eram submissos a ele. A partir da constituição de 1988, com a regulamentação de novos núcleos familiares, núcleos familiares diversos que já existiam, mas não tinham previsão legal, passaram a ter mais visibilidade e direitos tutelados.
O casamento como se identifica hoje custou muitos anos de evolução da sociedade, nos modelos familiares anteriores pouco importava o afeto das relações, pois o que mais interessava eram as ligações sociais que o casamento iria trazer, como os famosos casamentos arranjados. Acerca do casamento arranjado, Christopher Lasch (1991, p. 27) entende que “[...] a prática do casamento arranjado foi deixada de lado em nome do amor romântico e de um novo conceito da família como refúgio frente ao mundo do comércio e da indústria altamente competitiva e frequentemente brutal”. A partir da Constituição de 1988, o afeto passou a ser o principal motivo da formação dessas relações e não mais os interesses patrimoniais.
Além disso, o casamento tinha um viés muito religioso e não havia separação entre a relação jurídica e a religião, por isso anterior à promulgação da república somente existia o casamento religioso e até o ano de 1977, no Brasil, o casamento era indissolúvel. Nas palavras de Romualdo Baptista dos Santos:
Em resumo, a Lei 6.515/77 introduziu o divórcio entre as causas pelas quais se dissolvem a sociedade conjugal e o casamento (artigo 2º), estabeleceu a substituição do desquite pela separação judicial (artigos 3º a 23) e do divórcio (artigos 24 a 33 e artigo 40) e tratou dos aspectos processuais (artigos 34 a 39) (Santos, 2007, p. 56).
A indissolubilidade do casamento cessou com a promulgação da Lei de divórcio 6.515/77 e de certa forma libertou diversas pessoas e muitos casais que nunca se casaram por “amor”, mas sim por conveniência ou sob persuasão da própria família. Assim, a nova lei trouxe mais autonomia às partes para exercerem suas próprias vontades.
Outra mudança na configuração do casamento é que o Código Civil Brasileiro trazia o casamento entre “homem e mulher” no sentido estrito das palavras, quanto ao gênero, mas isso foi superado desde o julgamento do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir o casamento homoafetivo (Pereira, 2021, p. 8):
É a família conjugal constituída por pessoas do mesmo sexo, seja por meio da união estável ou casamento. Até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADIn 4277 e ADPF 132, em 05/05/2011, os tribunais estaduais tinham posições oscilantes sobre o reconhecimento desta formatação de família. (Grifo da autora)
Na atualidade não existe somente o casamento como constituição de vida conjugal, pois a conjugalidade existe nos relacionamentos, mesmo que não legitimados pelo casamento civil, e os conviventes também têm direitos patrimoniais, previdenciários, sucessórios e os mesmos inerentes ao casamento. Essa modalidade que antes era conhecida como “concubinato” no sentido pejorativo da palavra passou a chamar-se união estável a partir da Constituição de 1988, veja-se:
[...] A expressão união estável, adotada pela atual Constituição brasileira, veio substituir a expressão concubinato. Podemos dizer, então, que união estável era o concubinato não adulterino, ou puro. E o concubinato aquele adulterino, impuro ou desleal, que não recebeu proteção do Estado como uma forma de família, em razão do princípio da monogamia. [...] (Ponzoni, 2008, s.p.).
Os autores Flávio Tartuce e Carlos Eduardo Elias de Oliveira (2023, s.p.) explanam que “a união estável registrada há de ser equiparada ao casamento para todos os efeitos jurídicos, salvo naquilo em que a eventual informalidade da união estável possa prejudicar terceiros de boa-fé”.
O registro de união estável pode ser feito através de contrato particular ou por meio de escritura pública em um tabelionato de notas e é facultativo o registro da união nos registros públicos, inovação trazida pela Lei do Serp, no Art. 94-A. Além do registro formal da união estável, existe o reconhecimento da união estável judicial, inclusive post mortem para fins sucessórios, hereditários e patrimoniais.
Em todas as relações afetivas-sexuais sejam elas constituídas pelo casamento civil, união estável reconhecida judicialmente ou por instrumento particular, há o elemento conjugalidade e segundo a autora Silvia Felipe Marzagão (2023, p. 3), “é a conjugalidade, portanto, a parcela subjetiva ligada aos casamentos, moldada de acordo com a convivência cotidiana e a construção diária que, de fato, constitui a vida conjugal”. Dessa forma, a conjugalidade trata da plena comunhão de vidas em que o casal partilha suas intimidades e criam seus próprios costumes.
A conjugalidade vem sofrendo alterações constantes com o passar dos anos e a evolução das relações tem feito com que cada vez mais ela se torne fluida e moldável, possuindo várias conceituações diferentes, pois cada autor tem sua própria interpretação acerca do assunto, conforme ensina Pereira (2021, p. 71) “a conjugalidade é um núcleo de vivência afetivo-sexual com uma certa durabilidade na vida cotidiana” e por mais que o conceito defina uma relação afetivo-sexual, a sexualidade é muito relativa para cada casal, partindo da premissa que existem casais que não tenham vida sexual ativa por questões alheias às suas vontades, como doenças e incapacidades, ou até mesmo por opção própria.
Apesar da nomenclatura “conjugal” dar a ideia de um casamento civil, a conjugalidade não se limita aos casais que tiveram seu matrimônio legitimado civilmente, casais que convivem em união estável, sejam héteros ou homoafetivos, também possuem relação conjugal, isso porque possuem o vínculo afetivo e têm a mesma vontade de estarem juntos e formarem uma família, seja com filhos ou não. Sobre isso, pontua-se que “a relação conjugal é a relação de duas pessoas que se apresentam como casal e não apenas aquela considerada legal do ponto de vista jurídico” (Vitale, 1999 apud Costa, 2005). Dessa forma, a conjugalidade não se trata somente do afeto e do vínculo sexual entre os parceiros, mas sim da convivência como um todo, e isso pode incluir criação dos filhos, divisão das despesas do casal, formas de investimento do seu patrimônio, os cuidados necessários com o cônjuge.
As relações atuais têm se mostrado mais “voláteis”, quando comparadas com o passado dos casamentos que duravam toda a vida do casal, isso acontece porque vivemos na era do “amor líquido” conceituado pelo filósofo Zygmunt Bauman, segundo Anthony Giddens onde: “se entra pelo que pode ganhar e se continua apenas enquanto ambas as partes imaginem que estão proporcionando a cada uma, satisfações suficientes para permanecerem na relação” (Giddens citado por Bauman, 2004), o individualismo tem sido o foco das relações contemporâneas. Consequentemente, a fragilidade dos relacionamentos tem levado a cada dia mais divórcios, conforme Féres Carneiro:
Os indivíduos têm se divorciado, não por considerarem o casamento menos importante, mas, justamente porque sua importância é tão grande que eles não aceitam que a vida conjugal não corresponda às suas expectativas. Com o aumento das separações, crescem também em número e em diversidade, as novas configurações familiares (Carneiro, 1998, p. 06).
Muitas vezes, os rompimentos podem acontecer devido à falta de um acordo prévio quanto à conjugalidade, e a convivência entre si, casais que possuem ideais incompatíveis vivem relações cada vez menos tolerantes, e ao primeiro sinal de insatisfação diluem a sociedade conjugal.
Conforme estabelecido pela Constituição Federal Brasileira em seu artigo 5°, inciso II, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, esse dispositivo legal se refere ao princípio da autonomia da vontade ou autonomia privada que permite que as pessoas possam dispor livremente de suas próprias escolhas, desde que não sejam contra a lei.
A autonomia da vontade permite que o indivíduo tenha liberdade de escolha sobre sua jornada, partindo do princípio de que cada um sabe o que é melhor para si mesmo, desde que não afete o direito de outras pessoas. O princípio da autonomia privada ou autonomia da vontade pode ser compreendido como:
[...] a plena liberdade de escolha quanto a quando, o quê e com quem contratar, tendo-se a disposição o aparato estatal para fazer valer a avença, o princípio da autonomia privada rege a contratualização moderna, sendo cerne dos negócios jurídicos compreendidos como tradução da mais ampla vontade com discernimento aplicado e consequências balizadas (Marzagão, 2023, p. 33).
Do ponto de vista da autonomia da vontade quanto aos negócios jurídicos, tem-se a sociedade conjugal como um contrato entre as partes em que estas podem dispor suas vontades, fazerem acordos pré-nupciais, pós-nupciais, contratos particulares e acordos de convivência e essa liberdade só se efetiva quando o princípio da mínima intervenção estatal se aplica corretamente. O autor George Marmelstein aborda a autonomia da vontade da seguinte forma (2013, p. 18):
Cada um deve ser senhor de si, agindo como um ser responsável por suas próprias escolhas pessoais, especialmente por aquelas que não interferem na liberdade alheia. A proteção da autonomia da vontade tem como objetivo conferir ao indivíduo o direito de autodeterminação, ou seja, de determinar autonomamente o seu próprio destino, fazendo escolhas que digam respeito a sua vida e ao seu desenvolvimento humano, como a decisão de casar-se ou não, de ter filhos ou não, de definir sua orientação sexual etc.
O princípio da mínima intervenção estatal quanto à família é trazido pelo Código Civil Brasileiro em seu artigo 1.513: “É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família”. O Estado somente deverá intervir na vida familiar para atuar como protetor dos indivíduos. Segundo Rodrigo Pereira da Cunha:
O Estado abandonou sua figura de protetor-repressor, para assumir postura de Estado protetor-provedor-assistencialista, cuja tônica não é de uma total ingerência, mas, em algumas vezes, até mesmo de substituição a eventual lacuna deixada pela própria família como, por exemplo, no que concerne à educação e saúde dos filhos (cf. art. 227 da Constituição Federal). A intervenção do Estado deve apenas e tão-somente ter o condão de tutelar a família e dar-lhe garantias, inclusive de ampla manifestação de vontade e de que seus membros vivam em condições propícias à manutenção do núcleo afetivo (Pereira, 2004, p. 112).
Com isso, nota-se que o Estado tem visado promover a liberdade de escolha, mas com certos limites, desde que não prejudique os outros sujeitos de direitos da relação, as partes poderão dispor de forma livre sobre suas escolhas, sejam elas quanto a criação de seus filhos, suas relações afetivas, moradias e várias outras. A função da autonomia da vontade é de que sabendo de sua liberdade de escolha, os casais passem a realizar os próprios acordos e contratos, referentes à sua vida conjugal, mantendo isso na vida particular.
Dessa forma, abre-se a possibilidade de repactuar seus acordos quantas vezes forem necessárias para a manutenção de um relacionamento saudável. No próximo capítulo serão abordados temas como a contratualização do direito de família, as vantagens e a aplicabilidade do modelo na prática.
3 CONTRATUALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES FAMILIARES
Neste capítulo, o trabalho focará as relações contratuais dentro da família, demonstrando a importância de transcrever acordos familiares em contratos formais. Além disso, serão abordados alguns casos práticos em que os contratos podem ser utilizados, além da validade jurídica desses acordos.
Os contratos existem desde os primórdios da sociedade, desde o momento em que as civilizações ainda não utilizavam dinheiro como moeda de troca, mas sim o escambo, que assim como um contrato formal exprimia a vontade das partes e gerava obrigações. Não é possível precisar em que momento surgiram os contratos formais de fato, mas, segundo Gagliano:
[...] sem pretendermos estabelecer um preciso período de surgimento do fenômeno contratual [...] que cada sociedade, juridicamente producente, cada Escola doutrinária – desde os canonistas, passando pelos positivistas e jusnaturalistas – contribuíram, ao seu modo, para o aperfeiçoamento do conceito jurídico do contrato e de suas figuras típicas (Gagliano, 2019, p. 51).
Com a evolução das relações contratuais o contrato pode ser personalizado para exprimir da melhor forma a vontade das partes, de acordo com as suas necessidades, conforme tratado por Venosa (2023, p. 40) “a força obrigatória dos contratos não se aprecia tanto à luz de um dever moral de manter a palavra empenhada, mas sob o aspecto de realização do bem comum e de sua finalidade social.”
O contrato é instrumento do acordo de vontade das partes, Gagliano (2019, p. 57) acredita que “o contrato é um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades.” Ou seja, o contrato é o meio pelo qual as partes pactuam seus desejos e geram obrigações relativas a este, mas seguindo os limites legais impostos.
Cada vez mais, os contratos têm sido necessários para garantia de cumprimento dos acordos realizados, em quaisquer das relações, sejam elas negociais, relativas à patrimônio ou até mesmo familiares. Dentro do direito de família a contratualização das relações tem sido essencial, diante das novas modalidades familiares que surgem a cada tempo, “as novas gerações demandam a construção de regras específicas de Direito de Família para cada uma delas, respeitando as opções e as peculiaridades de cada indivíduo” (IBDFAM, 2020). Seguindo essa linha de pensamento, os contratos vêm para facilitar a formalização dos acordos necessários à boa convivência, segurança patrimonial, para que as relações fiquem bem estabelecidas, principalmente no mundo em que vivemos.
Hoje, onde apenas o texto da lei pode não ser o suficiente, ou não suprir as necessidades de todas as famílias, o próprio Código Civil Brasileiro por algumas vezes torna-se obsoleto. Em relação às evoluções no direito de família Rolf Madaleno disciplina:
[...] não é admissível preordenar espécies estanques de unidade familiar [...] quando a sociedade claramente acolhe outros dignificantes modelos de núcleos familiares e demonstra que aquelas previamente taxadas não espelham todo o alicerce social da família brasileira (2013, p. 7).
Esse trecho diz respeito à variedade de tipos familiares, pois nem todas são regulamentadas pela legislação pátria, esta, que geralmente abrange os direitos de forma generalista, enfatizando ainda mais a necessidade da personalização por contratos do direito de família brasileiro.
Para garantia de direitos dos núcleos e contratos familiares, faz-se necessário o conhecimento de alguns princípios norteadores do direito de famílias, como a dignidade da pessoa humana, princípio da solidariedade familiar, princípio da igualdade entre cônjuges e companheiros, princípio da autonomia privada, princípio da afetividade, princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Trata-se de princípios constitucionalmente garantidos, segundo Maria Berenice Dias:
Há princípios especiais próprios das relações familiares. É no Direito das Famílias onde mais se sente o reflexo dos princípios que a Constituição da República consagra como valores sociais fundamentais, os quais não podem se distanciar da atual concepção da família, que tem sua feição desdobrada em múltiplas facetas (Dias, 2022, p. 54).
Isso quer dizer que diante das novas configurações familiares, é essencial a aplicação dos princípios do direito de família a fim de assegurar a garantia de direitos fundamentais, independente da espécie de família ou dos arranjos feitos nela, como os contratos que são alvo deste capítulo.
As modalidades de possíveis contratos familiares, podem ser redigidos para questões patrimoniais, sexuais, de convivência, mudanças no estilo de vida e assistência familiar. Além de discutir regras sobre a entidade familiar, entre muitas outras formas de utilização, cada contrato poderá ser personalizado de acordo com a preferência da família (IBDFAM, 2020).
Os contratos dentro das relações afetivas têm a intenção de ajustar as vontades e limites de cada casal, atrelado diretamente ao princípio da autonomia privada. O casal irá exercer a autonomia para criar as próprias determinações de conjugalidade, analisando o que é melhor para o relacionamento.
A contratualização, portanto, tem premente força e papel primordial na construção atual da plena comunhão de vidas, até para que se possa primar pela plena valorização da autonomia privada, com o estabelecimento daquilo que fará sentido para cada qual dentro de sua conjugalidade e individualidade[...] (Mazargão, 2023, p. 29) (Grifo da autora)
A diversidade de arranjos familiares demanda diferentes tipos de contratos. Rolf Madaleno, em "Direito de Família" (2018, p. 725), afirma que "a contratualização das relações familiares é uma realidade que se impõe, refletindo a pluralidade das entidades familiares reconhecidas pelo ordenamento jurídico". Assim, podem ser citados os contratos mais comuns no Direito de Família, como por exemplo, pacto antenupcial, contrato de união estável, contrato de namoro, acordo de convivência, contrato de gestação por substituição, restabelecimento da sociedade conjugal etc.
Concernente à validade e aplicabilidade prática desses contratos, Carvalho (2020, s.p.) entende que “O inadimplemento mantém o devedor preso e vinculado à obrigação sucessiva de indenizar, mesmo quando negociados os direitos de personalidade”. Mas, como o próprio elenca no artigo, tratando-se de obrigações de cunho personalíssimo o sujeito não poderá ser coercitivamente obrigado a cumprir o acordo, para isso servem as cláusulas penais ou indenizatórias do ordenamento jurídico brasileiro, que irão ajudar a garantir o cumprimento do contrato, e assegurar o “pacta sunt servanda” entre as partes.
Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ no REsp nº 1.454.643/RJ:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL ADESIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, ALEGADAMENTE COMPREENDIDA NOS DOIS ANOS ANTERIORES AO CASAMENTO, C.C. PARTILHA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NESSE PERÍODO. 1. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 2. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NAMORADOS QUE, EM VIRTUDE DE CONTINGÊNCIAS E INTERESSES PARTICULARES (TRABALHO E ESTUDO) NO EXTERIOR, PASSARAM A COABITAR. ESTREITAMENTO DO RELACIONAMENTO, CULMINANDO EM NOIVADO E, POSTERIORMENTE, EM CASAMENTO. 3. NAMORO QUALIFICADO. VERIFICAÇÃO. REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. 4. CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO, COM ELEIÇÃO DO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. TERMO A PARTIR DO QUAL OS ENTÃO NAMORADOS⁄NOIVOS, MADUROS QUE ERAM, ENTENDERAM POR BEM CONSOLIDAR, CONSCIENTE E VOLUNTARIAMENTE, A RELAÇÃO AMOROSA VIVENCIADA, PARA CONSTITUIR, EFETIVAMENTE, UM NÚCLEO FAMILIAR, BEM COMO COMUNICAR O PATRIMÔNIO HAURIDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA; E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
No caso em questão, a realização de um contrato de namoro entre as partes, traria a proteção necessária ao patrimônio de ambos, afastando o instituto da união estável mesmo que morassem juntos. A coabitação de um casal nos tempos de hoje tornou-se algo rotineiro, mesmo que sem constituição de casamento, na falta de um acordo específico entre as partes a união estável pode ser reconhecida judicialmente, ou de forma espontânea por instrumento público ou particular, mas para aqueles que mesmo morando juntos não tem intenção de mesclar o patrimônio deverão se amparar em um contrato de namoro.
4 A TENUIDADE ENTRE O CONTRATO PARACONJUGAL E O PACTO ANTENUPCIAL
Este capítulo abordará a tenuidade entre dois institutos com finalidades aproximadas do direito de família, o pacto antenupcial e o contrato paraconjugal, suas peculiaridades e limites e, de forma objetiva, trazer as formalidades exigidas por cada um dos documentos, assim como sua aplicabilidade fática, com demonstração de casos reais e jurisprudências.
O instituto do Pacto Antenupcial, às vezes conhecido também como Contrato Nupcial, é um instrumento jurídico que visa estabelecer questões patrimoniais antes de um casal contrair núpcias, e há previsão legal para dispor também, de questões existenciais. Está previsto no Artigo 1.653 a 1.657 do Código Civil Brasileiro e é conceituado por Jorge Rachid Haber Neto:
[...] o negócio jurídico solene e acessório, elaborado, com exclusividade, pelo Tabelião de Notas da confiança das partes, seja na forma física ou digital, por escritura pública, que visa estabelecer não só o regramento familiar patrimonial, mas com possibilidade de ampliação objetiva também dos aspectos extrapatrimoniais, de acordo com a autonomia privada das partes, obedecidos preceitos constitucionais e legais de ordem pública, cultura e bons costumes (2023, p. 1).
Passou a ser obrigatório com a promulgação da Lei do Divórcio 6.515/1977, que estabeleceu o regime da comunhão parcial de bens como o regime legal no Brasil. O Código Civil traz quatro regimes de bens previstos no capítulo III, artigos 1.658 a 1.688, quais sejam: regime da comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação convencional de bens, ou de participação final nos aquestos. Para os casais que optarem por se casar no regime legal, da comunhão parcial de bens o pacto é dispensado, assim como, para aqueles que se encaixarem por conta de causas suspensivas do casamento no regime da separação obrigatória de bens, por força da lei, regido pela súmula 377 do STF.
A livre escolha do regime de bens que regerá o casamento, se dá devido ao princípio da autonomia privada, exposto no capítulo anterior. Conforme preceitua Jorge Rachid Haber Neto “Ao casal existe a liberdade (ou não a depender do caso) de pactuar um regime de bens, assim como há liberdade de escolha da pessoa com quem se deseja constituir família. É nula a estipulação por regime de bens sem a lavratura de escritura pública (plano de validade) e ineficaz se não houver casamento (ineficácia)” (2023, p. 5). Quando o autor faz a ressalva de que a escolha do regime de bens depende do caso, este se refere aos casos em que o regime de bens é imposto pela lei, se tratando das causas suspensivas do casamento, ou de casamento contraído por pessoas maiores do que setenta anos, mas esse entendimento foi recentemente alterado pelo STF, através do julgamento do tema de repercussão geral 1236. [1]
A realização do casamento civil para os regimes diferentes do legal, fica condicionada à apresentação de pacto antenupcial lavrado por escritura pública em um tabelionato de notas. A forma legal a ser seguida na lavratura está prevista no Código Civil do artigo 1.653 a 1.657 e a inobservância do procedimento faz com que o pacto não surta efeitos legais.
Sobre o conteúdo do pacto antenupcial, existem correntes doutrinárias divergentes, alguns doutrinadores entendem que o instrumento só poderá versar sobre disposições patrimoniais, e outros que pode se tratar sobre questões existenciais dos casais no pacto. A renomada doutrinadora Maria Helena Diniz (2014, p. 176) entende que “o pacto antenupcial é negócio dispositivo que só pode ter conteúdo patrimonial, não admitindo estipulações alusivas às relações pessoais dos consortes, nem mesmo de caráter pecuniário que não digam respeito ao regime de bens ou que contravenham preceito legal”. Vislumbrando esse entendimento, a referida doutrinadora é adepta da corrente restritiva quanto ao pacto antenupcial, que alega que somente poderão ser discutidas em pacto nupcial questões patrimoniais relacionadas ao regime de bens.
Contrária à essa corrente doutrinária, a autora Maria Berenice Dias adota o seguinte pensamento:
É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular o que desejarem quanto aos seus bens, presentes e futuros [...] de qualquer modo, nada impede que os noivos disciplinem também questões existenciais, de natureza não patrimonial. Em face da ausência da criminalização dos atos praticados via internet, possível ser estipulado no pacto a proibição de ser divulgado, em qualquer meio eletrônico, imagens, informações, dados pessoais ou vídeos do outro. (...) Também não há qualquer impedimento a que estipulem encargos outros, inclusive sobre questões domésticas. Ainda que não haja a possibilidade de a execução de algumas avenças ser buscada na via judicial, ao menos como acordo entre eles têm plena validade. Pode ficar definido, por exemplo quem irá ao supermercado, bem como que é proibido fumar pelo quarto, deixar roupas pelo chão etc. (Dias, 2017, p. 331-332).
Ao analisar dois posicionamentos totalmente diversos, percebe-se uma certa omissão no texto legal, que nem proíbe e nem permite expressamente o uso de cláusulas extrapatrimoniais no pacto antenupcial.
Como todos os demais negócios jurídicos, o pacto antenupcial tem suas limitações, como o próprio texto da legislação prevê no Art. 1.655 “É nula a convenção ou cláusula dela que contravenha disposição absoluta de lei.”, ou seja, são nulas as disposições do pacto antenupcial que versarem sobre assuntos contra legem. Mas o trecho “que contravenha disposição absoluta de lei” gera margens para interpretação de diferentes juristas.
Dois básicos argumentos impulsionariam a proibição dos pactos sucessórios e podem assim ser sumariados: i) resultaria odioso e imoral especular sobre a morte de alguém para obter vantagem patrimonial, podendo suscitar o desejo da morte pela cobiça de haver os bens; ii) o pacto sucessório restringe a liberdade de testar (Madaleno, 2016, p. 6).
Assim como disposições que versem sobre a disponibilidade de direitos fundamentais, que afetem a integridade física, psicológica e outros, pois o negócio jurídico precisa estar de acordo com o Código Civil, que determina que o objeto deve ser “lícito, possível, determinado ou determinável”, conforme o art. 104 inciso II.
O contrato paraconjugal, por sua vez, é conceituado por Silva Felipe Mazargão (2023, p. 62) “Contrato paraconjugal, é portanto, um negócio jurídico pelo qual duas pessoas casadas modulam sua conjugalidade, estabelecendo direitos e deveres específicos e recíprocos, sempre em busca da comunhão plena de vidas”. Ela aborda ainda que se trate de contrato atípico e que requer agente capaz e objeto lícito. Assim como o pacto antenupcial, o contrato tem suas limitações quanto ao objeto, não podendo versar sobre questões que afetem a ordem e os bons costumes, ou seja contra a lei.
Quanto às formalidades exigidas para sua lavratura, podem ser realizadas por instrumento público ou particular, sendo que a opção de as realizar por contrato particular tende a fazer mais sentido, pois geralmente o contrato irá versar sobre temas íntimos do casal (Mazargão, 2023, p. 62-63). Referente à validade dos contratos, trata-se de um negócio jurídico como qualquer outro, conforme a tradicional doutrina de Carlos Roberto Gonçalves (2018, p. 22), quando um negócio jurídico for “um mútuo consenso, de um encontro de duas vontades, estaremos diante de um contrato”.
Ainda conforme o Código Civil Brasileiro, Artigo 104 “A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.”. Tal dispositivo se encaixa nos contratos paraconjugais, para prevenir eventuais abusos de ambas as partes, pois caso o contrato não cumpra os requisitos de validade elencados no referido artigo, este não surtirá efeitos e nem poderá ser exigido o cumprimento das obrigações.
O prazo do contrato poderá ou não ser estipulado pelas partes, isso deverá ser analisado de acordo com cada contrato, a depender do acordo entre as partes e a situação em que se aplica. Na obra de Silvia Felipe Mazargão (2023), há um exemplo muito pertinente que permite a visualização da possibilidade de estipular um prazo para duração do contrato:
[...] caso de modulação de solidariedade em que um cônjuge se comprometa a arcar, em prol do outro, com despesas decorrentes de sua formação profissional, como custeio de determinado curso de formação. Imaginemos ainda que esse compromisso seja assumido como compensação ao fato de que esse cônjuge credor tenha se comprometido a cuidar com exclusividade do filho do casal pelos primeiros dois anos de vida abrindo mão, inclusive, de sua atividade profissional para tanto (Mazargão, 2023, p. 64).
No exemplo citado, faz sentido para o casal a estipulação de um prazo para o cumprimento do contrato. E assim, ao final do contrato, caso queiram pactuar um novo acordo de compensação mútua é plenamente possível.
As modalidades e espécies de contratos paraconjugais podem ser infinitas, desde que sigam a legalidade, e não versem sobre disponibilidade de direitos essenciais. Os pontos de negociabilidade podem ser “ligados aos elementos existenciais, por vezes com consequências patrimoniais, e que tenham vinculação com a autonomia dos cônjuges, ficando afastados do ajuste aqueles direitos inerentes à inegociável solidariedade familiar (Mazargão, 2023, p. 66).
Ainda conforme Ana Carla Harmatiuk Matos e Ana Carolina Brochado Teixeira (2021, p. 37) “[...] entende-se por disponíveis os deveres de fidelidade e coabitação, fundados no princípio da autonomia privada e na comunhão plena de vida, e indisponíveis os de mútua assistência, respeito, e consideração mútuos, guarda, sustento e educação dos filhos, posto que fundados na solidariedade familiar”. Mas, a indisponibilidade da pactuação referente à solidariedade familiar não deve ser considerada absoluta, visto que o casal pode acordar sobre a forma que essa solidariedade será prestada, quanto ao dever de cuidado, responsabilidade sobre os filhos (Mazargão, 2023, p. 66).
A modulação da conjugalidade deverá ser oposta de acordo com a necessidade, realidade, e criatividade de cada casal. Algumas situações cotidianas podem ser estipuladas em contrato, como por exemplo: “[...] moradora do interior de São Paulo, propôs antes de oficializar seu casamento com o noivo, Lucas Bonfim, de 28 anos. Os votos para lá de inusitados da jovem, com direito a contrato e tudo mais deram o que falar nas redes sociais e despertaram algumas críticas, com as quais ela confessa não se importar nem um pouco” (Metrópoles, 2022, s.p.)
O caso pode parecer engraçado, mas facilmente o exemplo citado poderia se tratar de um contrato paraconjugal, é plenamente possível que o casal module a sua paraconjugalidade da melhor forma para os dois. Ainda conforme a doutrina, poderão ser modulados no pacto o dever de fidelidade, coabitação, mútua assistência, dever de sustento, guarda e educação dos filhos, e outros assuntos pertinentes quanto à relação do casal (Mazargão, 2023, p. 75).
Outro exemplo trazido por Silva Felipe Mazargão é de que:
[...] a esposa tenha uma vida profissional mais intensa e promissora que o marido e, por essa razão, o casal, sempre alinhado em seus propósitos de comunhão plena de vidas, opte que somente o pai seja totalmente responsável pelos cuidados diretos com os filhos (acompanhamento acadêmico e escolar, acompanhamento médico e psicológico, preparo e fornecimento de refeições etc.), enquanto à mãe cave o sustento material da prole. Absolutamente compreensível e factível que o casal contrate, dentro de sua paraconjugalidade, condições de compensações financeiras para o exercício exclusivo dos cuidados pelo pai [...] (Mazargão, 2023, p. 67-68).
Porém, assim como o pacto antenupcial, o contrato paraconjugal possui certos pressupostos de validade. Deve ser observado o princípio da igualdade entre os cônjuges, não se pode pactuar em contrato situações que irão levar algum dos contratantes a situações vexatórias, discriminatórias, ou que despertem algum tipo de dependência (Mazargão, 2023, p.68). Neste mesmo sentido, Renata Vilela Multedo (2017, p. 311) versa que “Os pactos não podem ser usados para colocar uma das partes em situação de desigualdade ou de dependência, nem para restringir liberdade e tampouco para violar direitos fundamentais de um parceiro.” Essas ponderações são extremamente necessárias para garantir os direitos dos cônjuges como seres individuais.
A formalização desse acordo familiar, que comumente se dá apenas de forma verbal, é fundamental, para a garantia da segurança jurídica das partes. Isso acontece porque contratos formais, onde o acordo é expressamente transcrito em instrumento legal trazem mais segurança. O princípio da segurança jurídica está previsto na Constituição Federal, Artigo 5° inciso XXXVI “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Há vários conceitos doutrinários acerca do princípio, mas José Afonso da Silva entende que “A segurança jurídica consiste no ‘conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida’” (Silva, 2006, p. 133).
Quando no âmbito contratual a segurança jurídica deverá ser o norte das relações, sendo que ela proporciona confiabilidade e previsibilidade. Para Juliana Grigório de Souza Ribeiro:
A própria expressão segurança jurídica traz a ideia de confiança no sentido de que as coisas tendem a ser da forma como já eram previstas no ordenamento jurídico, podendo ser modificadas no futuro, mas com impactos suavizados com a garantia de que os atos pretéritos já estão "seguros" por terem sido cumpridos os requisitos de sua formação de acordo com a lei pregressa (Ribeiro, 2023, p. 22).
Isto é, as relações contratuais neste caso familiares, devem observar a forma prescrita em lei, para que o negócio tenha validade jurídica e possua efeitos jurídicos perante os contratantes. Assim, mesmo que a lei venha a ser alterada posteriormente, devido a “instabilidade jurídica” que se instala no mundo, o direito adquirido e o negócio jurídico perfeito não serão prejudicados.
Diante das informações trazidas de cada instituto (pacto antenupcial e contrato paraconjugal), é possível notar algumas semelhanças quanto à matéria do documento. Mas suas formalidades não podem ser confundidas, há limitações legais para cada instituto, e o casal deverá analisá-las cuidadosamente para definir qual deles deverá reger seu relacionamento. O contrato paraconjugal que é o foco deste trabalho, se destaca pela liberdade da autonomia da vontade privada, onde os contratantes são livres para escolherem seus próprios acordos, dentro dos limites legais. Pela facilidade de alteração do contrato, visto que os casamentos se renovam a cada dia, sendo que a partir do momento que o acordo não fizer mais sentido na convivência do casal, poderá ser alterado a qualquer tempo. Além disso, pode ser lavrado por instrumento particular, sem exigir mais formalidades, como a publicidade, o que garante a intimidade e privacidade do casal quanto aos seus acordos.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das pesquisas apresentadas, percebe-se como o direito pode atuar diretamente na prevenção de conflitos familiares, tornando acordos que geralmente são feitos informalmente, para contratos particulares, onde são observadas formalidades que promovem segurança jurídica. O instituto se faz essencial para aqueles que o adotarem da forma correta, expondo seus direitos e deveres inseridos na conjugalidade e tende a crescer na realidade brasileira.
Por se tratar de um instituto ainda pouco conhecido no Brasil, se faz necessário a pesquisa de maneira mais aprofundada, para que se construa uma base doutrinária sobre o assunto, pois a partir do momento que os casais passarem a entender do que se trata o contrato paraconjugal, a aderência ao instituto entrará em ascensão.
O artigo confirmou a possibilidade de modulação da conjugalidade por contrato particular, visto que tal faculdade quanto à liberdade de contratação e definição da própria vida dentro dos limites legais, está prevista na Constituição Federal, o princípio da autonomia da vontade privada. Ainda, junto a isso, o princípio da mínima intervenção estatal e do livre planejamento familiar caminham juntos, para conferir a liberdade necessária do indivíduo de construir sua própria felicidade, conceito esse que depende de cada ser humano.
As doutrinas abordadas em todo o trabalho formaram uma base sólida do direito de família, que visa demonstrar exatamente as realidades em que estamos inseridos nos dias de hoje. Além de dissertar sobre os contratos paraconjugais, o presente trabalho demonstra a necessidade de que o direito se renove a cada tempo, para atender as pretensões dos novos núcleos familiares existentes, para que alcancem visibilidade perante a sociedade.
Quanto aos contratos paraconjugais, trata-se de um tema vasto a ser discutido em vários detalhes, o trabalho de conclusão de curso se faz pequeno em relação à quantidade de assuntos que precisam ser discutidos nesse tema como, por exemplo, as limitações do contrato paraconjugal frente à um possível abuso dentro do negócio jurídico e seus vícios, são hipóteses que precisam ser tratadas em trabalho mais abrangente, que permita uma margem maior de conteúdo, faz sentido que a presente pesquisa seja continuada em uma dissertação de mestrado. Além dessas hipóteses muitas outras poderão ser abordadas mais profundamente, como a regulamentação de casais poliafetivos através de um contrato paraconjugal e quais suas implicações no do direito patrimonial e sucessório.
REFERÊNCIAS
BHAZ. Mulher faz contrato que obriga noivo a lavar a louça todos os dias. Disponível em: <https://www.metropoles.com/brasil/mulher-faz-contrato-que-obriga-noivo-a-lavar-a-louca-todos-os-dias>. Acesso em: 22 set. 2024.
BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2004.
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil.
BRASIL. Lei de Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp), Lei n. 14.382/2022, 28/06/2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14382.htm. Acesso em: 22 jun. 2024.
CARNEIRO, Terezinha Féres. Casamento contemporâneo: o difícil convívio da individualidade com a conjugalidade. Psicologia Reflexão e Crítica. Disponível em: https://www.scielo.br/j/prc/a/WGzgV8McnFxCvXdy3wndy4F/?lang=pt. Acesso em: 15 jul. 2024.
CARVALHO, Dimitre Braga Soares. Contratos Familiares: cada família pode criar seu próprio direito de família. Disponível em: https://ibdfam.org.br/artigos/1498/Contratos+familiares:+cada+fam%C3%ADlia+pode+criar+seu+pr%C3%B3prio+Direito+de+Fam%C3%ADlia. Acesso em: 8 ago. 2024.
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, 15° ed. São Paulo: Juspodivim, 2022.
DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2017.
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil: contratos. volume 4. 2. ed. unificada. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 3: contratos e atos unilaterais. 15. Ed. – São Paulo: Saraiva Educação – 2018.
IBDFAM. Famílias Simultâneas: União Estável e Concubinato. IBDFAM, [2008]. Disponível em: https://ibdfam.org.br/artigos/461/Fam%C3%ADlias+Simult%C3%A2neas:+Uniao+Est%C3%A1vel+e+Concubinato. Acesso em: 30 set. 2024.
LASCH, Robert Christopher. (1991). Refúgio num mundo sem coração: a família-santuário ou instituição sitiada? Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1991.
MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 5ª. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2013.
MADALENO, Rolf. Direito de família. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018.
MADALENO, Rolf. Renúncia de herança no pacto antenupcial. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://www.infographya.com/files/RENUNCIA_DE_HERANCA_NO_PACTO_ANTENUPCIAL.pdf>. Acesso em: 16 set. 2024.
MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2013.
MATOS, Ana Carla Harmatiuk, TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Pacto Antenupcial na hermenêutica civil constitucional. Indaiatuba-SP: Foco, 2021.
MAZARGÃO, Silvia Felipe. Contrato paraconjugal: a modulação da conjugalidade por contrato teoria e prática. 1° ed. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2023.
MULTEDO, Renta Vilela. Liberdade e família: limites para a intervenção do estado nas relações conjugais e parentais. Rio de Janeiro: Processo, 2017.
NETO, Jorge Rachid Haber. Pacto Antenupcial. 1 ed. Indaiatuba-SP: Foco. 2023.
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Concubinato e União estável. 9° ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1994.
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito das Famílias. 3° ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais e norteadores para a Organização Jurídica da Família. Universidade Federal do Paraná – UFPR CURITIBA: 2004.
RIBEIRO, Juliana Grigório de Souza. Segurança jurídica coletiva: conceito e abrangência. UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE. 2023. Disponível em: https://adelpha-api.mackenzie.br/server/api/core/bitstreams/58735a18-0faf-4eb7-a03e-d7752705e64a/content. Acesso em: 25 out. 2024.
SANTOS, Romualdo Baptista. Considerações sobre a Lei de Divórcio e Separações Extrajudiciais. Revista IOB de Direito de Família. Porto Alegre, v.9, n.45. 2008.
SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006.
TARTUCE, Flávio; OLIVEIRA, Carlos Eduardo Elias. União estável versus casamento: Passado, presente e futuro – Reflexões após a Lei do Serp. Revista IBDFAM. Disponível em: https://ibdfam.org.br/artigos/1998/Uni%C3%A3o+est%C3%A1vel+versus+casamento%3A+Passado%2C+presente+e+futuro+-+Reflex%C3%B5es+ap%C3%B3s+a+Lei+do+Serp. Acesso em: 20 jun. 2024.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: contratos. 23. ed. – Barueri -SP: Atlas, 2023.
[1] “Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no art. 1.641, II, do Código Civil, pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes, mediante escritura pública.” (Tema 1236 - Regime de bens aplicável no casamento e na união estável de maiores de setenta anos. MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO)
Os artigos assinados aqui publicados são inteiramente de responsabilidade de seus autores e não expressam posicionamento institucional do IBDFAM