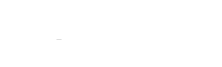Artigos
Justiça em uma perspectiva de gênero: o reconhecimento do trabalho de cuidado no direito das famílias
Brunella Poltronieri Miguez[1]
Resumo: Este artigo objetiva discutir o trabalho de cuidado, de modo a refletir sobre os seus impactos na vida das mulheres. Ainda, pretende-se abordar o valor jurídico desse trabalho, analisando quais medidas jurídicas podem ser implementadas no âmbito do Direito das Famílias que, conforme a perspectiva de gênero, reconhecem a desproporcionalidade da contribuição das mulheres em relação aos homens, no trabalho do cuidado das famílias. A abordagem metodológica utilizada foi a revisão de literatura de trabalhos sobre a temática da economia do cuidado e análise jurisprudencial de duas decisões em que o trabalho do cuidado foi reconhecido e valorado: o julgado da 3ª Vara da Família e Sucessões de São Paulo (SP), em janeiro de 2024, que, ao decidir sobre ação de alimentos, considerou a divisão sexual do trabalho, reconhecendo o papel predominante da mãe na prestação de cuidados diários à casa e ao filho; e a 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), que, na análise de um caso envolvendo uma ação de alimentos com regulamentação de convívio, considerou o trabalho doméstico invisível realizado pelas mulheres. Este estudo permite compreender a importância da temática do trabalho de cuidado no âmbito do Direito das Famílias, bem como a relevância dessas duas decisões que, refletem a justiça em uma perspectiva de gênero e, desse modo, avançam no reconhecimento jurídico do trabalho de cuidados desempenhado pela maioria das mulheres na sociedade brasileira. Analisar e julgar uma ação com perspectiva de gênero nas relações assimétricas de poder significa aplicar o princípio da igualdade, como resposta à obrigação constitucional de eliminar qualquer tipo de discriminação de gênero. Dessa forma, será possível observar uma abordagem de justiça, que não esteja restrita à mera aplicação de normativas legais, mas que incorpore a parentalidade responsável e outros valores fundamentais, como igualdade, solidariedade e respeito mútuo no âmbito familiar.
Palavras-chave: Direito das Famílias; trabalho de cuidado; perspectiva de gênero; responsabilidade parental.
Introdução
“Sem os nossos feitos, esses mares seriam inavegáveis e essas terras férteis, um deserto. Demos à luz, criamos, banhamos e ensinamos, talvez até a idade de seis ou sete anos, um bilhão e seiscentos e vinte e três milhões de seres humanos que, de acordo com as estatísticas, existem neste momento, e isso, mesmo que tenhamos tido ajuda, leva tempo”. (Woolf, Virginia, 2014, p. 156-157).
O cuidado encontra-se presente na vida de todos. As pessoas, em diversas etapas da vida, precisam de cuidados. Os idosos, no inevitável processo de envelhecimento, precisam de apoio e assistência, as crianças, por sua vez, necessitam de um desenvolvimento infantil adequado e saudável, e o cuidado, nesse caso, está ligado não só à ideia de educação, mas também às atividades de cuidado rotineiras, como vestir e alimentar.
Certo é que, dependendo da idade, saúde ou circunstâncias pessoais, existirão situações em que dependeremos de cuidados de terceiros. Daí reside a função social fundamental do cuidado, ou seja, de manter o bem-estar da sociedade e a reprodução da vida. Importante também anotar que o cuidado tem uma dupla dimensão, constitui tanto um direito – inclusive, reconhecido no âmbito da Conferência Regional sobre a Mulher na América Latina e Caribe como um direito humano (ONU Mulheres; CEPAL, 2021) – quanto um dever que algumas pessoas desempenham.
A despeito de importantes estudos[2] no âmbito da Sociologia e da Economia[3], a temática sobre o trabalho de cuidado ainda é pouco discutida pela literatura jurídica ou observada na prática por juristas. Essa discussão torna-se particularmente importante no âmbito do Direito das Famílias, pois a ausência de uma divisão equilibrada das responsabilidades parentais contribui para sobrecarregar aquele a quem compete o cuidado exclusivo, na maioria das vezes, mulheres.
Diante disso, a questão que orienta a reflexão do presente artigo é a seguinte: na esfera da justiça, quais medidas podem ser observadas a fim de equilibrar a desigualdade de gênero que ainda atravessa o trabalho do cuidado nas famílias, prejudicando, sobremaneira, as mulheres que são mães ou cuidadoras? Pretende-se discutir o trabalho de cuidado, de modo a refletir sobre seus impactos na vida das mulheres. Ainda, pretende-se abordar o valor jurídico desse trabalho, analisando quais medidas jurídicas têm sido implementadas no âmbito do Direito das Famílias que, conforme uma perspectiva de gênero, reconhecem a desproporcionalidade da contribuição das mulheres em relação aos homens, no trabalho do cuidado das famílias.
A abordagem metodológica utilizada foi a revisão de literatura de trabalhos sobre a temática da economia do cuidado e a análise jurisprudencial de duas decisões em que o trabalho do cuidado foi reconhecido e valorado: o julgado da 3ª Vara da Família e Sucessões de São Paulo (SP), em janeiro de 2024, que, ao decidir sobre ação de alimentos, considerou a divisão sexual do trabalho, reconhecendo o papel predominante da mãe na prestação de cuidados diários à casa e ao filho; e a decisão da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, na análise de um caso envolvendo uma ação de alimentos com regulamentação de convívio, considerou o trabalho doméstico invisível realizado pelas mulheres
A reflexão proposta desenvolveu-se em duas seções. Na primeira, discute-se sobre os conceitos de cuidados e, em diálogo com a literatura feminista, destacam-se os impactos que a sua responsabilidade quase exclusiva tem na vida das mulheres. Ainda, pontua-se como trabalho de cuidado tem ganhado destaque no campo das políticas públicas. Dessa discussão, na segunda seção, discute-se a importância da temática do trabalho de cuidado no âmbito jurídico, em especial no Direito das Famílias. Ainda, apresentam-se as duas decisões judiciais que, a partir da perspectiva de gênero, reconheceram a sobrecarga do trabalho doméstico e de cuidado desempenhado por mulheres.
- O trabalho de cuidado na perspectiva de gênero: diálogos com as teorias feministas
Segundo relatório da Organização Internacional do Trabalho, intitulado “Care Works and Care Jobs for the Future of Decent Work”, publicado no ano de 2018, o trabalho de cuidado envolve atividades e relações voltadas para o atendimento das necessidades físicas, psicológicas e emocionais de adultos e crianças, idosos e jovens, debilitados ou saudáveis. O estudo ressalta, ainda, que a maioria do trabalho de cuidado não remunerado em quase todas as sociedades ocorre dentro de famílias e, na maioria das vezes, é fornecido por mulheres e meninas. Dessa forma, constata-se que são as mulheres que fornecem a grande maioria do trabalho de cuidado não remunerado, em termos de número de horas, e também representam a maioria dos cuidadores não remunerados em todo o mundo (OIT, 2018).
No mesmo sentido, levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2022) mostra que
entre as pessoas que estão empregadas, os homens dedicam em média 11 horas por semana aos afazeres domésticos e ou cuidados de pessoas, enquanto as mulheres dedicam em média 18 horas por semana. Essa disparidade é ainda mais acentuada entre indivíduos sem ocupação. Nesse caso, homens dedicam, em média, apenas 13 horas por semana aos afazeres domésticos e ou cuidados de pessoas, enquanto mulheres em média 24,5 horas semanais (Costal, 2024, n.p).
Ademais, segundo dados publicados pelo mesmo instituto (IBGE, 2023), verificou-se que os homens conseguem fazer uma melhor transição escola-trabalho do que mulheres, que são as principais responsáveis pelos afazeres domésticos e cuidado de parentes (IBGE, 2023).
Ainda, de acordo com Jaqueline Costal (2024), mesmo quando os homens executam essas atividades, por vezes, são as mulheres que realizam o planejamento, antecipam possíveis problemas e consideram todos os detalhes e interações necessárias à realização do trabalho de cuidado. Ou seja, além de ainda serem as principais executoras desse cuidado, as mulheres acabam participando, mesmo que indiretamente, quando os homens realizam o trabalho de cuidado. Essa assimetria em relação ao predomínio do vínculo das mulheres com o trabalho doméstico afeta negativamente a capacidade de trabalho feminina.
Adriana Piscitelli (2008), ao retomar os pensamentos feministas[4] sobre o que foi chamado de diferença sexual, discute como os diferentes feminismos foram responsáveis por formulações que explicam as assimetrias de poder entre homens e mulheres no plano social e cultural. Expõe a autora os esforços desses movimentos em denunciar como as diferenças tidas como naturais ou biológicas, converteram-se historicamente em desigualdades “naturalizadas”, (Piscitelli, 2008, p. 119). Isso porque, culturalmente, associa-se ao feminino a esfera privada, a passividade, o trabalho de cuidado, a emoção em detrimento da razão, ao passo que, ao masculino, vincula-se à esfera pública, o trabalho remunerado, à racionalidade, à neutralidade. Essa diferença é fruto da relação de poder entre os gêneros, ou seja, da existência de hierarquias estruturais (Mackinnon, 2011).
Dito de outro modo, prevalecem, ainda, arraigados no imaginário social, estereótipos de gênero[5] como, à mulher incumbe a responsabilidade pelo cuidado do lar, dos filhos e dos idosos da família, ao passo que ao homem cabe o trabalho (não doméstico) e o papel de provedor da família[6] (Monteiro, 2003). Nesse contexto, com ou sem remuneração, mulheres acabam assumindo os trabalhos de cuidado, os homens, por seu turno, ficam, na maioria das vezes, desincumbidos dessa tarefa, de modo que têm mais tempo livre para concentrar esforços na vida profissional, social e política. Essa divisão do trabalho, baseada na assimetria de gênero, é efeito e reprodutora de desigualdades e se organiza a partir da construção histórica, social e cultural que essencializa a existência de trabalhos “naturalmente” masculinos e “naturalmente” femininos, além disso se arrima numa noção de hierarquia que valoriza o trabalho masculino em detrimento ao feminino (CNJ, 2021).
Ressalta-se que a perspectiva de gênero se orienta pelo intuito de reconhecer que as mulheres vivenciam experiências próprias de subalternização social. Porém, o entendimento dessas experiências tem sido elaborado, reformulado e disputado em diferentes momentos da história das teorias sociais feministas, impulsionando, de igual modo, diferentes lutas políticas. Especificamente quanto aos estudos do trabalho e da economia, essa perspectiva vem “desvelar dimensões que concebem o trabalho remunerado como “uma experiência de homens, brancos, qualificados” (Guimarães; Hirata, 2014, p. 9) e as tarefas de atenção e cuidados às pessoas e de reprodução da vida social como atributos de mulheres. A perspectiva de gênero, ao tomar o cuidado como objeto de estudo, favorece também o desenvolvimento de discussões sobre a própria
organização social dos trabalhos de cuidado, suas variações e permanências no decorrer da história, suas implicações para o status e o usufruto da cidadania de quem provê e ou demanda e recebe cuidados, e sobre o papel de suas formas tradicionais de distribuição para a reprodução de desigualdades e hierarquias entre grupos sociais (Ipea, 2016, p. 13).
O cuidado pode ter diferentes sentidos, por isso, a dificuldade de se traçar um único significado ou natureza. Como escreve Helena Hirata (2010, p. 48), definir de maneira rigorosa o cuidado é entendê-lo como “uma relação social que se dá tendo como objeto outra pessoa”. Não é, necessariamente, um “trabalho” em si mesmo, mas que pode ser realizado por meio de várias atividades. Implica, conforme Cristina Carrasco (2012), “relações, efeitos, suporte emocional”, todos essenciais para o desenvolvimento humano. São muitas as possibilidades de sistematização de definições relacionadas ao cuidado: pode-se destacar seu caráter remunerado e não-remunerado, ou a dependência ou autonomia da pessoa que o recebe; da diferenciação do trabalho produtivo e reprodutivo, entre outras. Cada uma dessas perspectivas desvela aspectos distintos do trabalho de cuidado (Ipea, 2016).
Interessa-nos, aqui, o sentido de cuidado que considera atividades referidas à reprodução social e ao bem-estar das pessoas em geral e que, embora essenciais, não precisam do contato direto entre as pessoas e do vínculo emocional. Essa perspectiva dá ênfase ao trabalho de manutenção e reprodução da força de trabalho e privilegia “uma gama de atividades no escopo dos cuidados, sobretudo daquelas atividades de cuidado que são socialmente mais invisibilizadas e desvalorizadas[7]” (Ipea, 2016, p. 15). Permite compreender o papel social do cuidado, universal e necessário ao desenvolvimento, aprendizado e socialização de toda pessoa (Carrasco; Borderías; Torns, 2011, p. 32), e ainda indispensável para que a economia funcione (Carrasco, 2012).
A discussão sobre trabalho de cuidado e a inserção de mulheres no mercado remunerado também permite refletir sobre os estereótipos que reforçam a ideia de que mulheres são consideradas menos produtivas e estáveis no emprego, dadas as exigências do trabalho doméstico. Apesar de alguns avanços no que se refere ao ingresso da mulher no mercado de trabalho, inclusive em atividades tidas como “masculinas”, ainda é possível notar vieses discriminatórios. Existem estereótipos de gênero que representam as mulheres como frágeis para assumir lideranças, cargos de chefia e continuam as invisibilizando; a maternidade, por seu turno, ainda é uma questão que limita a mulher no mercado de trabalho e não é, pois, vista com bons olhos perante os empregadores; igualmente, a dupla jornada assumida pela mulher (trabalhos domésticos e trabalho remunerado).
A economia refere-se a essas situações distintivas como segregação ocupacional por gênero horizontal (Fernandez, 2018), quando homens e mulheres trabalham em ocupações diferentes.
A dificuldade em conciliar trabalho e cuidados faz com que as mulheres se submetam a trabalhos precários ou pouco remunerados. Isso porque são, frequentemente, impedidas de investir em estudos e em profissionalização, em virtude das tarefas domésticas e de cuidado. Contam, ainda, com dificuldades na seleção de emprego, por conta dos estereótipos de gênero. Desse modo, mulheres esbarram no chamado “piso pegajoso” (CNJ, 2021), o qual reproduz a sobre-representação das mulheres em trabalhos precários, com baixos salários e perspectivas de mobilidade.
Ainda, a dupla jornada leva à desigualdade de oportunidades e salários no mercado de trabalho. Situação que se ilustra com a metáfora do “teto de vidro” (CNJ, 2021), ou seja, existem barreiras invisíveis que as impedem de ascender a níveis hierárquicos mais elevados. A economia denomina segregação vertical (Fernandez, 2018) quando a maioria dos trabalhadores que ocupam postos mais elevados de determinada profissão é formada por homens e, por outro lado, o escalão mais baixo é formado por mulheres. Faz-se relevante também abordar as rotinas laborais descontínuas, já que muitas mulheres se retiram do mercado de trabalho ante a sobrecarga da jornada de cuidado, sem qualquer rede de apoio.
Frisa-se que a desigualdade na distribuição do cuidado não atinge todas as mulheres da mesma forma. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quanto menor a escolaridade e a renda familiar, maior a disparidade na divisão das tarefas domésticas entre homens e mulheres (IBGE, 2022). Ou seja, o trabalho invisível atinge sobretudo mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade, com um impacto ainda mais pronunciado sobre mulheres negras. Esse aspecto contribui diretamente para o conhecido fenômeno da feminização da pobreza (Costal, 2024).
Desse modo, sob uma ótica interseccional, a questão de gênero se entrecruza com outros eixos de opressão – como etnia, raça e classe – que geram desigualdades até mesmo entre as mulheres. Nessa linha, depreende-se que as estruturas de classe irão determinar, por exemplo, quais mulheres executarão fisicamente esse trabalho e quais as mulheres pagarão para que outras, economicamente desfavorecidas, executem esse serviço (Crenshaw, 2002).
1.1 O trabalho de cuidado no campo das políticas públicas:
Em diferentes campos de saberes, tem-se construído ferramentas teóricas e políticas denominadas “perspectiva de gênero”, definida como uma abordagem conceitual ou o conteúdo que damos ao sistema de poder sexo-gênero para analisar como operam e os efeitos das assimetrias de poder existentes entre homens e mulheres, bem como produzir estratégias, ações, normativas e políticas para o seu enfrentamento (Severi, 2016). A partir da perspectiva de gênero, a economia feminista[8] tem chamado atenção para a necessidade de incorporar aos modelos econômicos e aos desenhos de políticas públicas, esse trabalho, “já que sem eles, não apenas as pessoas não sobreviveriam, como também o mercado não subsistiria” (Carrasco, 2012, p. 252), concedendo, desse modo, à organização social da reprodução humana a mesma importância que a organização da produção assalariada.
Tradicionalmente, essa discussão foi invisibilizada no âmbito político, pelo fato de o cuidado ser tratado como um tema privado (Carrasco, 2012), naturalizado como de exclusiva responsabilidade de mulheres e, por vezes, romantizado por ser associado ao amor, quando deveria ser entendido como trabalho (CNJ, 2021).
Apenas recentemente o cuidado tem sido incorporado nas políticas públicas, como resultado da luta das organizações e movimentos de mulheres para a conquista da igualdade substancial entre homens e mulheres. De acordo com relatório da ONU Mulheres e da Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL), a centralidade do cuidado tem sido progressivamente, incorporada nas agendas públicas da região. Essa inserção reflete o entendimento da importância da reorganização social do cuidado como chave para a construção de sociedades mais igualitárias e inclusivas. Os Estados membros da CEPAL têm aprovado uma série de acordos essenciais para a concepção e implementação de políticas do cuidado, reafirmando a importância da corresponsabilidade do cuidado entre homens, mulheres, famílias, o Estado e o mercado, bem como a importância de garantir a sustentabilidade financeira de políticas que tenham como foco a igualdade de gênero.
A Argentina, por exemplo, avançou em relação à proteção às mulheres, ao reconhecer a relevância dos cuidados como forma de mitigar as disparidades de gênero no âmbito econômico. O Decreto n. 475/2021 reconheceu o cuidado materno como tempo de serviço computável para a concessão de aposentadoria, podendo ser acrescentado de um a três anos de tempo de serviço por filho, como forma de garantir que mulheres-mães possam alcançar o tempo mínimo exigido pela legislação daquele país (Arcanjo, 2021).
Nessa mesma linha, o Uruguai, em 2015, impulsionado pela sociedade civil e pela academia, criou o Sistema Nacional Integrado de Cuidados, por meio da aprovação da Lei n. 19.353. Trata-se de um conjunto de políticas destinadas a promover um modelo corresponsável que envolva as famílias, o Estado, a comunidade e o mercado na prestação de cuidados àqueles que deles necessitam (ONU Mulheres; CEPAL, 2021).
Na próxima seção, aborda-se como o tema do trabalho de cuidado e o seu custo às mulheres têm, paulatinamente, ganhado também o âmbito jurídico, sobretudo no Direito das Famílias.
2. O trabalho de cuidado: a perspectiva de gênero no Direito das Famílias
No contexto brasileiro, a Constituição Federal de 1988 representa importante marco para a promoção da igualdade de gênero. Isso porque, após um período histórico de desigualdade e discriminação[9], assegurou plena igualdade de tratamento jurídico às mulheres, ao dispor em seu artigo 5º, caput que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, bem como que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações” (art. 5º, inciso I da CRFB/88). No que diz respeito às relações familiares, extrai-se que “os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher” (art. 226 da CRFB/88).
Restou clara a preocupação constitucional em superar o caráter patriarcal do Direito das Famílias e afirmar a igualdade substancial entre homens e mulheres, excluindo qualquer tipo de discriminação. O princípio da isonomia, na sua dimensão substancial (leia-se também igualdade material), proíbe tratamento diferenciado para pessoas que estão na mesma situação, porém permite tratamento diferenciado, quando da existência de motivo que o justifique. Ou seja, quando há um discrímen, é necessário um tratamento diferenciado pelo Direito.
Assim, a depender da situação fática, bem como dos sujeitos envolvidos, o tratamento jurídico será desigual, exatamente para o fim de se efetivar a igualdade no caso concreto. Oportuna também a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
para além da simples previsão de igualdade substancial, contida no ordenamento constitucional, é preciso que se promova, em cada interpretação jurídica, em especial no âmbito das relações de família, a adequação dessa isonomia aos casos concretos, impedindo que sejam resgatados, por via oblíqua, velhos dogmas e afirmações contrárias à igualdade, em flagrante violação do espírito constituinte (Farias; Rosenvald, 2022, p. 103).
É certo que a aplicação da igualdade no caso concreto depende da observância de elementos particulares, como a formação educacional, profissional, os valores culturais, bem como a história de vida que perpassa a família. Torna-se, assim, imperioso que cada jurista, diante de uma interpretação, se comprometa a reconhecer eixos de desigualdades históricas (como a diferença que cerca o homem e a mulher) e, sobretudo, a focalizar a diferença em nome da proteção de direitos. Bem pondera Berenice Dias:
Depois de séculos de tratamento discriminatório, as distâncias entre homens e mulheres vêm diminuindo. A igualdade, porém, não apaga as diferenças entre os gêneros, que não podem ser ignoradas pelo Direito. O desafio é considerar as saudáveis e naturais diferenças entre os sexos dentro do princípio da igualdade. Já está superado o entendimento de que a forma de implementar a igualdade é conceder à mulher o tratamento diferenciado de que os homens sempre desfrutaram. O modelo não é o masculino, e é preciso reconhecer as diferenças, sob pena de ocorrer a eliminação das características femininas. É preciso banir a desigualdade de gêneros (Dias, 2021, p. 68-69).
Ainda, conforme a autora, faz-se necessário olhar mais, detidamente, a condição das mulheres para aferir se, realmente, há na situação concreta igualdade ou se esta é apenas formal. Perceba que nos casos em que a mulher fica com a guarda dos filhos e compromete as suas atividades profissionais e, em certa medida, também a vida pessoal, essa pode estar em situação de vulnerabilidade em razão de uma peculiar situação que vivencia (Dias, 2021).
Acertadamente, a autora afirma que o princípio da igualdade no Direito das Famílias não deve ser pautado simplesmente pela igualdade entre iguais, mas sim pela solidariedade de seus membros, em atenção à ordem constitucional. Em seu núcleo, a solidariedade carrega a fraternidade e a reciprocidade (Dias, 2021). Tanto que o dever de assistência aos filhos decorre do princípio da solidariedade (art. 229 da CRFB/88), assim como os deveres recíprocos entre os integrantes do grupo familiar.
Outro significativo avanço no contexto brasileiro, foi o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça[10]. Lançado em 19 de outubro de 2021, o documento chamou atenção para a necessidade de o Poder Judiciário se atentar a questões que envolvem as relações de gênero no julgamento das ações judiciais, de modo a cumprir os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, como a Convenção de Belém do Pará, a CEDAW (Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher) e a Declaração de Pequim, tratados com força de emenda constitucional (Hildebrand, 2021). O protocolo representa ainda um instrumento para se alcançar a igualdade de gênero, reconhecida como Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ODS 5 da Agenda 2030 da ONU, à qual se comprometeram o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2021).
O documento traz questões teóricas sobre a igualdade de gênero e orientações para que os julgamentos que ocorrem nos diversos âmbitos da Justiça possam concretizar o direito à igualdade e à não discriminação de todas as pessoas, de modo que o Poder Judiciário não reproduza estereótipos e não perpetue a desigualdade histórica, social, cultural e política existente entre homens e mulheres na sociedade brasileira (CNJ, 2021).
Em relação ao Direito das Famílias, o CNJ aponta a atuação com perspectiva de gênero como essencial à realização da Justiça, considerando que “as relações domésticas são marcadas pela naturalização dos deveres de cuidado não remunerados para as mulheres e pela predominante reserva de ocupação dos espaços de poder – e serviços remunerados – aos homens” (CNJ, 2021, p. 95).
Importa ressaltar que, além da atuação com perspectiva de gênero no momento da decisão, o CNJ (2021) assevera a necessidade de sua observação também na tramitação processual. Isso porque a demora de uma decisão de mérito pode gerar dificuldades, especialmente para as mulheres, como a ausência de renda e falta de acesso a bens e serviços, tendo ainda que garantir todos os cuidados dos(as) filhos(as) (CNJ, 2021). Na próxima seção, discute-se dois importantes julgados que, ao aplicarem o Protocolo, reconheceram o trabalho de cuidado invisível e não remunerado desempenhado pelas mulheres para a majoração dos valores de alimentos[11].
2.1 Direito das Famílias numa perspectiva de gênero: decisões judiciais que avançam na igualdade material entre homens e mulheres
Como exposto na seção anterior, na trilha da compreensão constitucional e a partir das orientações do CNJ (2021), o julgador pode aplicar o princípio da isonomia, levando em consideração os papéis, as funções desempenhadas por cada membro da família, em respeito à igualdade (aqui destaca-se a igualdade de gênero), bem como a dignidade da mulher.
Nessa perspectiva, destaca-se o julgado da 3ª Vara da Família e Sucessões de São Paulo (SP), em janeiro de 2024, que, ao decidir sobre ação de alimentos, determinou pensão devida pelo pai alimentante. A decisão considerou a divisão sexual do trabalho, reconhecendo o papel predominante da mãe na prestação de cuidados diários à casa e ao filho, incluindo os serviços de limpeza, compras, cuidado com educação e saúde (IBDFAM, 2024). Em relação à divisão sexual do trabalho, importante também pôr em relevo a discussão sobre estereótipos e a visão equivocada de que homens são os provedores e as mulheres cuidadoras, pois isso pode, ao invés de beneficiá-las no caso de fixação de alimentos, acarretar distorções indesejáveis, por exemplo, na partilha de bens, ao se considerar que as mulheres são “incapazes” de gerir e administrar aluguéis, de terem participação nos lucros de empresas ou mesmo administrá-las (CNJ, 2021).
A decisão da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na análise de um caso envolvendo uma ação de alimentos com regulamentação de convívio, considerou o trabalho doméstico invisível realizado pelas mulheres. A decisão destacou a “sobrecarga de responsabilidades que lhes tira oportunidades no mercado de trabalho, no aperfeiçoamento cultural e na vida pública” (Carmo; Canhedo, 2024, p. 9). Neste sentido, confira-se:
Quando os filhos em idade infantil residem com a mãe, as atividades domésticas, inerentes ao dever diário de cuidado (como o preparo do alimento, a correção das tarefas escolares, a limpeza da casa para propiciar um ambiente limpo e saudável) – por exigirem uma disponibilidade de tempo maior da mulher, sobrecarga que lhe retira oportunidades no mercado de trabalho, no aperfeiçoamento cultural e na vida pública – devem ser consideradas, contabilizadas e valoradas, para fins de aplicação do princípio da proporcionalidade, no cálculo dos alimentos, uma vez que são indispensáveis à satisfação das necessidades, bem-estar e desenvolvimento integral (físico, mental, moral, espiritual e social) da criança (...).TJPR - acórdão nº 0013506-22.2023.8.16.0000, 12ª Câmara Cível, Rel.: Eduardo Augusto Salomão Cambi, Data de julgamento: 02.10.2023.
A decisão avança no sentido de reconhecer e valorar o trabalho de cuidado não remunerado desempenhado pelas mulheres para o cálculo dos alimentos devidos, já que estes são indispensáveis ao desenvolvimento integral dos(as) filhos(as). Assim, considerando os prejuízos que a sobrecarga do trabalho de cuidado acarreta à vida econômica, social e política das mulheres, entendeu que essa deve ser contabilizada e valorada para fins de aplicação do princípio da proporcionalidade no cálculo dos alimentos.
A decisão considerou, em especial, a carga mental despendida pela mãe no cuidado com o filho. Compreendeu, desse modo, as múltiplas consequências do desequilíbrio na distribuição do trabalho de cuidado, que afetam não apenas aspectos sociais e econômicos, mas também físicos e emocionais.
Nesse sentido, o CNJ (2021) aponta a importância de se reconhecer que a construção de estereótipos de gênero relacionados aos papéis e expectativas sociais reservados às mulheres como integrante da família pode levar a violação de direito das mulheres que deixa a relação (matrimônio ou união estável) com perdas financeiras e sobrecarga de obrigações no cuidado dos(as) filhos(as), mesmo no caso de guarda compartilhada.
Registra-se que dentro dessa convivência simultânea e concomitante com ambos os genitores, oferecida pela guarda compartilhada, também pode haver um cenário de distorções. A concretização da guarda compartilhada demanda uma participação efetiva de ambos os genitores no cotidiano do filho. Naturalmente, exige-se dos pais maior tempo útil para o convívio constante. Com efeito, novos arranjos necessitam ser estabelecidos (mudanças de horários de trabalho, lazer, estudo) para adequar a rotina de vida de cada um dos pais a fim de que possam manter a convivência com os filhos.
No entanto, no cotidiano familiar, muitas vezes, os pais ou responsáveis nem sempre estão igualmente engajados na convivência e no cuidado com a criança. A falta de vontade em participar diariamente do processo de criação e crescimento do filho, bem como a inflexibilidade para abdicar de projetos de vida pessoal, são determinantes para o desequilíbrio no cuidado. Assim, em que pese a guarda compartilhada, o tempo de convivência pode não estar dividido de forma equilibrada entre os genitores.
Neste cenário, em que os filhos exigem uma disponibilidade de tempo maior da mulher, deve ser considerado o princípio da parentalidade responsável, consagrado no artigo 226, § 7º da Constituição da República (Brasil, 1988). A doutrina aponta como parentalidade responsável[12] essa assunção de deveres parentais, compreendida em assistir, acompanhar, criar, cuidar, educar (este último vale tanto para a formação profissional, quanto para a formação cidadã: o conhecido “ensinar para a vida”), de modo a propiciar o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. Desse modo, a fixação de alimentos deve obedecer a uma perspectiva solidária entre pais e filhos(as), pautada na ética do cuidado e nas noções constitucionais de cooperação, isonomia e justiça social.
Propõe-se, assim, o uso do princípio da parentalidade responsável para que os alimentos sejam fixados em montante proporcional aos esforços da mulher, em vista dos trabalhos domésticos diários dirigidos aos(às) filhos(as), de modo que se alcance o dever de equidade de cuidado de pai e mãe no âmbito do poder familiar. Em síntese, o princípio também pode ser uma medida para desconstrução da suposta neutralidade epistêmica do direito. As duas decisões contribuíram, desse modo, para a implementação de práticas dos princípios constitucionais de igualdade, refletindo no âmbito jurídico a necessidade de equidade nas responsabilidades familiares (Carmo; Canhedo, 2024).
Nessa mesma direção, Carlos Elias de Oliveira (2024) aponta a possibilidade do pagamento de pensão compensatória àquela(e) genitora(r), que em razão do regime de guarda, fica responsável pelo trabalho de cuidado dos(as) filhos(as). Ou seja, o pai, além de arcar com a pensão alimentícia devida, deveria pagar uma pensão compensatória para a mãe, valor proporcional à sua dedicação por esse trabalho de cuidado. De acordo com o autor, embora a pensão compensatória possa ser fixada de forma autônoma, na prática, as decisões judiciais têm admitido de forma implícita seu valor fixado a título de alimentos.
A proposta seria então estender o instituto da pensão compensatória que, atualmente, tem sido utilizado pela jurisprudência apenas nos casos em que se reconhece que o padrão de vida de um dos ex-consortes diminui consideravelmente em decorrência do fim do matrimônio ou da união estável (Madaleno, 2017). Ou seja, o que tem sido levado em consideração nas decisões judiciais é apenas o desequilíbrio econômico em comparação com o estilo de vida experenciado antes da separação ou do divórcio. Desse modo, estender o instituto para os casos de regime de guarda, torna-se interessante por reconhecer o desequilíbrio econômico que a sobrecarga do trabalho de cuidado representa para as mulheres. Além disso, reconhece que o(a) beneficiário(a) dos trabalhos de cuidado é o(a) próprio(a) filho(a), de modo que “é razoável compensar economicamente àquela(e) prestadora(r) desses serviços. Assim, reconhece-se também o valor econômico do trabalho de cuidado.
Considerações Finais
Os cuidados e sua tradicional atribuição às mulheres têm sido tema recorrente no movimento de mulheres e nos feminismos há algumas décadas. Também no âmbito acadêmico, desde os anos 1980, essa discussão tem sido observada por diferentes campos teóricos (Hirata, 2010), em especial pelos estudos que mobilizam gênero como categoria de análise, de modo a analisar as diferenças que atribuem lugares sociais distintos a homens e mulheres e impõem, quase exclusivamente, o trabalho de cuidados a elas.
A divisão sexual do trabalho, que ainda determina diferentes papéis sociais a homens e mulheres, foi responsável por construir a figura da “mulher-cuidadora”. Ou seja, ainda que as mulheres já tenham acessado o mercado de trabalho remunerado, o trabalho não remunerado de cuidar ainda se mantém em sua quase exclusiva responsabilidade. Isso porque, como bem pontuou Marcela Lagarde y de los Rios (2011, p. 132), mesmo quando as mulheres acessam o mercado de trabalho, conservam, concomitantemente, a obrigação social e histórica do trabalho doméstico e do cuidado.
Como escreve Valéria Esquivel (2012), é preciso analisar a desigual distribuição do trabalho de cuidado, em termos de gênero, na qual se encontra a origem da posição subordinada das mulheres e de sua inserção subalternizada no mercado de trabalho. Desse modo, embora o trabalho de cuidado, em especial o familiar doméstico e não remunerado, seja responsável pelo bem-estar de pessoas em geral, acaba por representar um custo físico (de tempo, energia), emocional, econômico, social e político para aquelas(es) que o proveem.
Nesse contexto, como buscou-se abordar ao longo do artigo, torna-se essencial a adoção de uma perspectiva de gênero no âmbito jurídico, bem como a discussão sobre a temática do trabalho de cuidado no âmbito do Direito das Famílias. Analisar e julgar uma ação com perspectiva de gênero nas relações assimétricas de poder significa aplicar o princípio da igualdade, como resposta à obrigação constitucional de eliminar qualquer tipo de discriminação de gênero (Severi, 2016). Dessa forma, será possível observar uma abordagem de justiça, que não esteja restrita à mera aplicação de normativas legais, mas que incorpore a parentalidade responsável, bem como outros valores fundamentais como o de igualdade, solidariedade e de respeito mútuo no âmbito familiar.
Nessa linha, as duas decisões analisadas representam um tímido, porém importante avanço nessa direção. Isso porque reconheceram a responsabilidade prioritária ou exclusiva das mulheres sobre o cuidado dos filhos, que hoje ainda se encontra incrustada na realidade da estrutura social, como se a mulher tivesse “vocação” ou tendência “natural” para exercer de forma exclusiva os trabalhos de cuidado (CNJ, 2021). Além disso, por meio da majoração dos valores de alimentos, reconheceram o valor jurídico e econômico do trabalho de cuidados desempenhado pela maioria das mulheres na sociedade brasileira, garantindo, desse modo, a igualdade substancial entre homens e mulheres e o real acesso à justiça a essas.
Assim, conforme visto, a crença em uma atuação jurisdicional “neutra”, sem a compreensão de identificação de eixos de opressão, como a desigualdade de gênero, corrobora visões heteronormativas sexistas, que escapam aos preceitos constitucionais de igualdade e dignidade. Desse modo, decisões judiciais centradas no reconhecimento e na valorização do trabalho cuidado (ou do trabalho doméstico não remunerado) das mulheres, quer seja no âmbito da fixação ou majoração da pensão alimentícia, quer seja a título de pagamento de pensão compensatória, figuram como essenciais para a desconstrução de estereótipos de gênero e para a construção de uma sociedade mais equitativa.
Referências
ARCANJO, Daniela. Argentina reconhece cuidado materno como trabalho para aposentadoria. Folha de São Paulo, São Paulo, 23 de julho de 2021. Mercado de trabalho. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/07/argentina-reconhece-cuidado-materno-como-trabalho-para-aposentadoria-entenda.shtml>. Acesso em: 25 maio 2024.
BRAH, Avtar. Diferença, diversidade, diferenciação. Cadernos Pagu, p. 329-376, 2006.
BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Brasília: DF, Senado, 1988.
CARMO, Vanessa Ferreira; CANHEDO, Nathalia. Valorizando o invisível: reconhecimento do trabalho doméstico não remunerado feminino na decisão da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná. Revista JRG de Estudos Acadêmicos, v. 7, n. 14, 2024.
CARRASCO, Cristina. O paradoxo do cuidado: necessário, porém invisível. In: Orçamentos sensíveis a gênero: conceitos. JÁCOME, Márcia Larangeira; VILLELA, Shirley (Org.). Programa Orçamentos Sensíveis a Gênero. ONU Mulheres, Brasília, 2012, p. 251-286.
CARRASCO, Cristina; BORDERÍAS, Cristina; TORNS, Teresa. El Trabajo de cuidado: história, teoria y políticas. Madrid: Cataratas, 2011.
CNJ. Conselho Nacional de Justiça. Protocolo para julgamento com perspectiva de Gênero [recurso eletrônico]. Brasília: Conselho Nacional de Justiça - CNJ; Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Enfam, 2021. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf>. Acesso em: 25 maio 2024.
COSTAL, Jaqueline. Desvendando o invisível: a luta pelo reconhecimento do trabalho doméstico e sua repercussão social. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/desvendando-o-invisivel-a-luta-pelo-reconhecimento-do-trabalho-domestico-e-sua-repercussao-social/2379145450>. Acesso em: 23 de jun. 2024.
CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o Encontro de Especialistas em Aspectos da Discriminação Racial Relativos ao Gênero. Estudos Feministas, v. 7, n. 12, 2002.
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 14. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021.
ENRÍQUEZ, Carina Rodriguez. Análise econômica para a igualdade: as contribuições da economia feminista. JÁCOME, Márcia Larangeira; VILLELA, Shirley (Org.). Programa Orçamentos Sensíveis a Gênero. ONU Mulheres, Brasília, 2012, p. 133-158.
ESQUIVEL, Valéria. A “Economia do Cuidado”: um percurso conceitual. (Org.) JÁCOME, Márcia Larangeira; VILLELA, Shirley. p. 237-250. Programa Orçamentos Sensíveis a Gênero. ONU Mulheres, Brasília, 2012.
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Famílias. 14. ed. Salvador: JusPodivm, 2022.
FERNANDEZ, Brena Paula Magno. Economia feminista: metodologias, problemas de pesquisa e propostas teóricas em prol da igualdade de gêneros. Brazilian Journal of Political Economy, vol. 38, n. 3, pp. 559-583, 2018.
GUIMARÃES, Nadia Araujo; HIRATA, Helena. Apresentações: controvérsias desafiadoras. Tempo Social. v. 26. N. 1, 2014.
HILDEBRAND, Cecília. Utilização da perspectiva de gênero do direito de família – protocolo do CNJ, 2021. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/utilizacao-da-perspectiva-de-genero-do-direito-de-familia-protocolo-do-cnj/1302569756>. Acesso em 12 de jul. 2024.
HIRATA, Helena. Teorias e práticas do care: estado sucinto da arte, dados de pesquisa e pontos em debate. In: FARIA, Nalu; MORENO, Renata (Org.). Cuidado, trabalho e autonomia das mulheres, São Paulo: SOF, 2010.
IBDFAM. Instituto Brasileiro de Direito de Família. Justiça de São Paulo fixa alimentos com base no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ. IBDFAM, Notícias, 11 de janeiro 2024. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/noticias/11460/Justi%C3%A7a+de+S%C3%A3o+Paulo+fixa+alimentos+com+base+no+Protocolo+para+Julgamento+com+Perspectiva+de+G%C3%AAnero+do+CNJ>. Acesso em: 25 mai. 2024.
IBGE. Coordenação de Pesquisas por Amostra de Domicílios. PNAD contínua: outras formas de trabalho, 2022. SBN 978-85-240-4574-5 IBGE, 2023. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/bibliotecacatalogo?view=detalhes&id=2102020>. Acesso em: 26 de jun. 2024.
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. Care work and care jobs for the future of decent work. International Labour Office – Geneva: ILO, 2018. Disponível em: <https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_633135.pdf>. Acesso em: 25 maio 2024.
IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Economia dos cuidados: marco teórico-conceitual. Relatório de pesquisa. Rio de Janeiro, 2016.
MACKINNON, Catharine A. Substantive equality: a perspective. Minnesota Law Review, Minneapolis, v. 96, 2011.
MADALENO, Rolf. Direito de Família. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.
MONTEIRO, Geraldo Tadeu Moreira. Construção jurídica das relações de gênero, Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
OLIVEIRA, Carlos Eduardo Elias de. Economia do Cuidado e Direito de Família: alimentos, guarda, regime de bens, curatela e cuidados voluntários. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado (Texto para Discussão nº 329), 2024.
ONU Mulheres; CEPAL. Hacia la construcción de sistemas integrales de cuidados en América Latina y el Caribe. Elementos para su implementación. Disponível em: <https://www.onumulheres.org.br/wpcontent/uploads/2022/12/rumo_construcao_sistemas_integrais_cuidados.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2024.
PISCITELLI, Adriana. Interseccionalidades, categorias de articulação e experiências de migrantes brasileiras. Sociedade e Cultura, v.11, n.2, p. 263- 274, 2008.
RÍOS, Marcela Lagarde y de los. Los cautiverios de las mujeres. Madrid: San Cristobal, 2011. p. 132.
SEVERI, Fabiana Cristina. Justiça em uma perspectiva de gênero: elementos teóricos, normativos e metodológicos. Revista Digital de Direito Administrativo, v. 3, n. 3, p. 574-601, 206.
TJPR - Acórdão nº 0013506-22.2023.8.16.0000, 12ª Câmara Cível, Rel.: Eduardo Augusto Salomão Cambi, Data de julgamento: 02.10.2023.
WOOLF, Virginia. Um teto todo seu. Tradução: Bia Nunes de Souza. 1.ed. Tordesilhas: São Paulo, 2014, p. 156-157.
[1]Doutoranda em Direito pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). Mestra em Políticas Públicas pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia e em Direitos Fundamentais pela Universidade Carlos III de Madrid. Especialista em Direito de Família pela Tríade em parceria com o IBDFAM. Especialista em Direitos Humanos pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-MG). Membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM). E-mail: <advbrunellamiguez@gmail.com>. https://orcid.org/0000-0003-4445-9107.
[2] Como escreve Helena Hirata (2010), desde os anos 1980, as teorias sobre o cuidado têm se desenvolvido no contexto anglo-saxão. No entanto, a retomada desse debate ocorreu na França, em meados dos anos 2000, e no Brasil e América Latina, em período ainda mais recente. Ainda de acordo com a autora, inicialmente, as pesquisas sobre o cuidado contemplaram, em especial, os cuidados com as crianças. Por sua vez, o cuidado com as pessoas idosas tem ganhado mais espaço nas ciências sociais e humanas, dada a crescente longevidade da população em todas as regiões do mundo.
[3]A perspectiva da economia feminista introduz o gênero como categoria analítica e se propõe a desenvolver novas formas de ver o mundo social e econômico, tornando visível o que a economia tradicional mantinha como oculto, como o trabalho doméstico e de cuidado.
[4] O termo feminismos é utilizado em suas duas acepções: como ação política e como perspectiva teórica. O seu uso no plural evidencia a multiplicidade de um campo de práticas, teorias e de propostas políticas para transformação da realidade de subordinação social. Em diálogo com Avtar Brah (2006, p. 358), feminismos são tratados aqui como práticas discursivas historicamente contingentes.
[5]Como explica Fabiana Severi (2016, p. 575), “os estereótipos de gênero são tipos de crenças, profundamente arraigados na sociedade que os cria e os reproduz, acerca de atributos ou características pessoais sobre o que homens e mulheres possuem ou que a sociedade espera que eles possuam: são características de personalidade ou físicas, comportamentos, papéis, ocupações e presunções sobre a orientação sexual. Com base em tais estereótipos, a sociedade cria hierarquias entre os gêneros que, historicamente, têm servido para fortalecer e legitimar a subordinação social das mulheres e o controle sobre seus corpos”.
[6] Virgílio de Sá Pereira, sob a égide do Código Civil de 1916, pontuava: “o governo doméstico incumbe à mulher; ao homem, o mundo dos negócios, a luta pela vida, a conquista do pão, do conforto e da fortuna (...)” (Cf. Monteiro, 2003).
[7]Essa perspectiva “estende as fronteiras do trabalho reprodutivo” para analisar ainda como o “conteúdo de cuidado” de certas ocupações, majoritariamente desempenhadas por mulheres, acarreta desvalorização e menor remuneração. Nessa perspectiva, diferentes estudos mostram que, nas atividades de cuidado, como educação, saúde e serviço doméstico, permanece a ideia de que as mulheres são “naturalmente” propensas ao cuidado.
[8]A economia feminista se propõe a tornar visíveis as diferenças existentes entre homens e mulheres e que essas não derivam estritamente da racionalidade econômica, mas se originam da construção social e cultural das relações de gênero. Além disso, coloca “no centro a vontade de transformação das situações de desigualdade de gênero e da posição econômica subordinada das mulheres” (Enríquez, 2012, p. 134).
[9]Vale mencionar que o Código Civil de 1916 estabelecia distinções descabidas e absurdas em relação às mulheres. O artigo 219 conferia a possibilidade de anulação de casamento pelo marido em razão de erro, se viesse a descobrir defloramento de sua esposa anterior ao casamento. Por sua vez, o artigo 242, inciso VII do CC/1916, proibia a mulher casada de exercer qualquer profissão, fora do lar conjugal, sem autorização do marido. Além disso, o marido era o chefe da sociedade conjugal (art. 233 do CC/1916) (Monteiro, 2003). Vale destacar, ainda, que, em que pese os avanços, no Código Civil de 2002, ainda remanescem desigualdades formais com viés discriminatório, que confrontam a normativa constitucional e exigem esforço interpretativo do jurista. Na lição de Berenice Dias (2002, p.150-151), “o Código Civil de 2002 ainda sacraliza a família e presume a fidelidade da mulher (...). A menos-valia da mulher resta clara ao não ser concedida qualquer credibilidade à sua palavra. Não basta a esposa ter cometido adultério. Ainda que confesse a infidelidade e negue a filiação, isso de nada serve para afastar a presunção legal da paternidade (CC 1.600). Ora, em época em que a identificação do vínculo biológico já obtém índices tão significativos por meio do exame do DNA, nada justifica tal desprestígio à mulher”.
[10]O Protocolo é resultado dos estudos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria CNJ n. 27, de fevereiro de 2021, para colaborar com a implementação das políticas nacionais estabelecidas pelas Resoluções CNJ n. 254 e 255, de 4 de setembro de 2018, relativas, respectivamente, ao Enfrentamento à Violência contra as Mulheres pelo Poder Judiciário e ao incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário (CNJ, 2021, p. 7).
[11] Os alimentos são essenciais para a subsistência daquele que, por si só, não consegue por si prover a sua manutenção pessoal, em razão da idade, doença, incapacidade, impossibilidade ou ausência de trabalho. O termo “alimentos” tem um sentido amplo e visa atender às necessidades vitais e sociais básicas, como saúde, educação, vestuário, habitação. Destinam-se também a manter requisições de índole moral e cultural, devendo as prestações atender à condição social e ao estilo de vida do alimentando, assim como a capacidade econômica do alimentante (Madaleno, 2017).
[12] “(...) O dever jurídico de exercer a parentalidade de modo responsável compreende a obrigação de conferir ao filho uma firme referência parental, de modo a propiciar o seu adequado desenvolvimento mental, psíquico e de personalidade, sempre com vistas a não apenas observar, mas efetivamente concretizar os princípios do melhor interesse da criança e do adolescente e da dignidade da pessoa humana, de modo que, se de sua inobservância, resultarem traumas, lesões ou prejuízos perceptíveis na criança ou adolescente, não haverá óbice para que os pais sejam condenados a reparar os danos experimentados pelo filho (...).” (REsp n. 1.887.697/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021).
Os artigos assinados aqui publicados são inteiramente de responsabilidade de seus autores e não expressam posicionamento institucional do IBDFAM