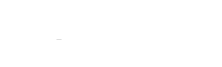Artigos
A Felicidade não está em crise
Jones Figueirêdo Alves
Foi revelado, recentemente, que nosso país melhorou o seu produto interno bruto de felicidade. Na versão 2025 do Relatório Mundial da Felicidade (“World Happiness Report”), criado em 2012 e divulgado anualmente pela Organização das Nações Unidas (ONU), com medição em 147 países, o Brasil subiu oito posições no ranking e agora ocupa a 36ª colocação. A Finlândia, pelo oitavo ano consecutivo, foi identificada como o país mais feliz.
Entre os elementos de medição, anotou-se que a força das relações cotidianas, emocional ou afetiva, assume efeitos de melhor bem-estar para a qualidade de vida.
A busca da felicidade como realização humana é um direito personalíssimo e existencial fundado na dignidade de cada um. A felicidade é a concretude ideal da pessoa em sua existência e ao direito, como ordem jurídica, cabe instrumentalizá-la suficiente à sua obtenção adequada. É da natureza humana, em seu estado de espírito, acreditar podermos ser felizes, à exata medida de nossas circunstâncias e dos nossos sonhos.
Não custa lembrar que a busca da felicidade enquanto direito a ser exercido já tem assento em diversas Cartas Políticas, a exemplo das Constituições do Reino do Butão (artigos 9º e 20, 1), Japão (artigo 13) e Coréia do Sul (artigo 10).
Aliás, a Declaração de Independência dos Estados Unidos (4.07.1776), instituiu dentre determinados direitos inalienáveis, o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à busca da felicidade, quando escrita por Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e outros juristas e intelectuais, servindo de Carta Política da nação fundada. Esse direito aparece pela vez primeira como inerente à natureza dos homens, criados iguais pelo Criador.
Nessa diretiva, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1798, França) também preconiza a felicidade coletiva, prevendo que as reivindicações pessoais devam sempre se destinarem à obtenção de uma felicidade geral.
Lado outro, estado de espírito, sonho humano, sentido de realização pessoal, garantia de paz, a felicidade, intrínseca e imutável à própria dignidade das pessoas, também é um valor social e uma questão política de educação pública. Cogita-se um conceito jurídico da felicidade, enquanto bem da vida, juridicamente considerado.
Interessante é que a busca nunca se conclui com o seu termo de encontro, mais precisamente nunca deixa de ser uma busca, por sua própria vocação intrínseca, importando mais que o próprio alcance. Quando a felicidade possa estar coabitando no interior das pessoas, estas preferem, porém, incursionar uma constante busca, como que a felicidade nunca fosse alcançável, imediata ou mais simples.
Explicou Aristóteles, que a felicidade não é um estado, “mas uma atividade vital que vem dentro de cada ser humano.” Ele revela que a felicidade é autossuficiente, “o que significa que ela não é buscada a qualquer outro elemento”. Ou seja, “define-se agora autossuficiente aquilo que, mesmo isolado, torna a vida desejável, sem que nada lhe falte; e acreditamos que a felicidade seja assim” (Ética a Nicômaco, 1097b14-16).
Em um mundo de pós-modernidades, de realidades midiáticas que distorcem a ideia de felicidade em suas práticas e em seu sentido de virtude, ela se transfigura como que uma obrigação inevitável extraída das repercussões exacerbadas de autoestima e das exigências sociais. A felicidade cobra das pessoas a sua própria imagem e torna-se uma obsessão pessoal de tal ordem que não conduz à própria felicidade. Vai daí as mídias sociais, onde nelas todos insistem exibir, por mera aparência, uma pretendida felicidade nos gestuais do bem-viver.
Explica o filósofo Fernando Savatier que sobre a felicidade a única coisa que conhecemos ao certo é a vastidão de sua procura. Ora, a felicidade como anseio, “radicalmente um projeto de inconformismo”, tem uma fenomenologia de decisões éticas, dentre elas: (i) ninguém aprenderá ser feliz sozinho e (ii) o não conformismo tem sua natureza ambiciosa e angustiante que não se contenta com aquela felicidade que se subsuma ao essencial das coisas mais simples e perenes.
Tomada a questão em sua amplitude, não custa lembrar a obra “La estrutura social”, de Julian Marías (1955), que em sua versão brasileira teve a apresentação de Gilberto Freyre. Diz-nos Marías que “a felicidade está condicionada pela realização de nossa pretensão pessoal” (sempre irrealizável) e que “a noção de felicidade tem sido referida comumente a uma ´vida inteira´”. Pois bem: enquanto a felicidade implicar a realização da pretensão vital, certo é que essa pretensão será sempre exercida durante a vida inteira, e ao vivermos uma vida completa, teremos a felicidade conduzida ao casuísmo de felicidade de cada um, conforme alojada no tempo das trajetórias e nos limites concretos experenciados, dia após dia.
A pretensão da felicidade não se exaure a um determinado nível, porquanto atingido parcialmente renderia uma felicidade vivida de forma deficiente ou insatisfatória. Em tal latitude, a conclusão inarredável é a de a busca da felicidade deve ser continuadamente exercida como um direito fundamental e permanente das pessoas. A felicidade é a busca do sentido de vida, e seu alto desempenho cogita de um “flow”, o fluxo das experiências felizes acumuladas.
Como a felicidade, demonstrada pelo Iluminismo, deve ser destinada a todos como um direito essencial e não a poucos (na Antiguidade, de uma elite de sábios e virtuosos), tudo pondera, como ensina George Minois (2009), no sentido de diversas “felicidades”. Que cada um seja feliz, portanto, a seu modo de uso.
Jones Figueirêdo Alves é Desembargador Emérito do TJPE. Advogado e parecerista
Os artigos assinados aqui publicados são inteiramente de responsabilidade de seus autores e não expressam posicionamento institucional do IBDFAM