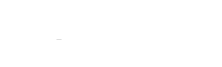Artigos
O direito sucessório do cônjuge na reforma do Código Civil sob perspectiva de gênero
Marianna Lobo Santos Costa
Pós-Graduada em Direito de Família e Sucessões pelo IBDFAM. Advogada.
RESUMO: O presente artigo realizou uma análise dos dispositivos legais do Anteprojeto de Reforma do Código Civil, relativos ao Direito das Sucessões, especificamente no que tange ao direito sucessório do cônjuge, em comparação com o direito sucessório atual, vigente através do Código Civil de 2002. Para tanto, foram realizados estudos documentais, baseados em artigos, livros e decisões judiciais. O resultado desta pesquisa demonstrou que a retirada do direito do cônjuge à concorrência sucessória na sucessão legítima, pode impor a uma grande parcela de mulheres o estado de vulnerabilidade socioeconômica, considerando que, diante de uma análise histórica, social e estatística, muitas mulheres atualmente se encontram fora do mercado de trabalho, dependendo financeiramente do seu cônjuge, o que ocasiona a ausência de patrimônio próprio. Além disso, demonstrou-se que, à vista do resultado desta pesquisa, haveria outras possibilidades de alterações normativas, que trazem maior equanimidade ao direito sucessório do cônjuge, em relação aos demais herdeiros.
Palavras-chave: Direito das Sucessões; Cônjuge; Gênero.
ABSTRACT : This article carried out an analysis of the legal provisions of the Draft Reform of the Civil Code, relating to Succession Law, specifically about partnership inheritance law, in comparison with the current inheritance law, in force through the Civil Code of 2022. To Therefore, documentary studies were carried out, based on articles, books, and court decisions. The result of this research demonstrated that the withdrawal of the right to participate in succession competition in legitimate succession can result in a state of socioeconomic vulnerability for a large portion of women, considering that, given a historical, social, and statistical analysis, a large portion of women are found outside the labor market, depending financially on their participation, or resulting in the absence of their assets. Furthermore, it was demonstrated that, given the results of this research, there would be other possibilities for normative changes, which bring greater equality to the inheritance right of involvement, concerning the other heirs.
Keywords: Succession Law; Spouse; Gender.
SUMÁRIO
2.1. AS RAÍZES DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.. 6
2.1.1. Direito Sucessório Atual 10
2.1.1.1. A Reforma do Código Civil e Seus Efeitos na Sociedade Contemporânea. 15
4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 21
1.INTRODUÇÃO
Muito se fala sobre a necessidade de reforma do Código Civil de 2002, tendo em vista que, após sua entrada em vigor, verificou-se a sensação, no mundo jurídico, de que ele “havia nascido velho”, em virtude de sua longa tramitação, embrionária desde 1975, no Congresso Nacional.
É inegável a enorme modificação e atualização dos institutos civis trazida pelo Código Civil de 2002, através do fenômeno da constitucionalização do Direito Civil, haja vista a promulgação da Constituição Federal de 1988, que irradiou normas principiológicas a todo ordenamento jurídico brasileiro, através – mas não exclusivamente – da normatização dos chamados “Direitos Fundamentais”, previstos em seu art. 5º.
No entanto, mais de vinte anos após a aprovação e vigência do Código Civil, há ainda mais necessidade de adequação das normas jurídicas aos fenômenos sociais – o que inclusive já era identificado desde a própria entrada em vigor do mencionado diploma –, uma vez que, pela a ausência de normatização desses fenômenos, verificou-se a necessidade de atuação ostensiva do Poder Judiciário na concessão e garantia dos direitos constitucionalmente estabelecidos, que não estavam abarcados pelas situações normatizadas pelo Código Civil de 2002.
Assim sendo, ouvindo o clamor social, o Poder Legislativo tomou a iniciativa de promover a tão sonhada (e necessária) reforma do Código Civil de 2002, a partir de uma comissão de juristas, criada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, contendo os mais renomados doutrinadores do Direito Civil Brasileiro, que se reuniram para discutir e orientar propostas de alteração dos dispositivos normativos.
Dentro de tais propostas, especificamente no Direito de Família, onde se guardam tantas questões de extrema sensibilidade e relevância, o anteprojeto, coordenado pelo ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que foi apresentado ao Senado Federal em 17 de abril de 2024, prevê alterações há muito tempo pleiteadas pela sociedade contemporânea, como por exemplo a ampliação do conceito de família, o reconhecimento da socioafetividade e da multiparentalidade, a união homoafetiva, entre outros.
No entanto, uma das alterações propostas no Anteprojeto, é a retirada do cônjuge como herdeiro necessário, condição prevista no art. 1.845 do Código Civil de 2002, bem como retirada do cônjuge da concorrência com os descendentes e ascendentes na sucessão legítima, prevista no art. 1.829 do CC/02, colocando-o somente no terceiro lugar da vocação hereditária, o que se consubstancia no tema do presente trabalho.
Umas das grandes justificativas da alteração dessas previsões legais relacionadas ao regime sucessório é a entrada da mulher no mercado de trabalho e a modernização e fluidez dos relacionamentos contemporâneos, que gera consequências diretas no direito de família, como a constituição de famílias recompostas, de modo que, atualmente, o cônjuge de um indivíduo, ao tempo de sua morte, não necessariamente participou da construção do patrimônio que herdará, na dispositivos legais atualmente vigentes, o que, na visão de diversos juristas, tornaria a sucessão demasiadamente privilegiada ao cônjuge, em detrimento dos demais herdeiros necessários, como os descendentes e ascendentes.
Todavia, em que pese a relevância das justificativas que apoiam a mencionada alteração no regime de direito sucessório trazida pelo anteprojeto, é necessário se aprofundar na análise dos motivos pelos quais o cônjuge foi elevado à categoria de herdeiro necessário e colocado para herdar em concorrência com os descendentes e ascendentes do de cujus, aspectos trazidos pelo Código Civil de 2002, para verificar se, à luz da perspectiva de gênero, a retirada do cônjuge de tais posições não o coloca em situação de injustiça e vulnerabilidade socioeconômica e, de fato, representa um avanço legislativo pautado na adequação das normas à sociedade contemporânea, ou representa um perigoso otimismo social desacompanhado da realidade fática da situação da mulher na sociedade, nos dias atuais.
Para tanto, o presente artigo, através de uma revisão bibliográfica, irá trazer os aspectos históricos, jurídicos e sociais do cônjuge, especificamente feminino, dentro do direito sucessório, a fim de compreender a evolução e conquistas de direitos à herança, bem como, estatisticamente, analisar se este é um momento ideal da retirada de sua posição privilegiada na sucessão legítima e testamentária, além de trazer uma possível solução entre o aparente conflito de pretensões.
2.DESENVOLVIMENTO
- As Raízes da Legislação Brasileira
Até a entrada em vigor do Código Civil de 1916, vigia no Brasil a legislação portuguesa denominada Ordenações Filipinas, que teve extensa aplicação em solo brasileiro, desde sua edição, que ocorreu em 1603. (Carvalho Neto, 2005, p. 31).
À época, por força desse diploma normativo, o cônjuge ocupava o décimo lugar da sucessão legítima, atrás dos parentes colaterais do de cujus, à frente somente do Estado (Ordenações Filipinas: Livros IV e V p. 947-948). Tal situação perdurou até 1907, quando entrou em vigor a Lei nº 1.839, de 31 de dezembro de 1907, denominada “Lei Feliciano de Pena”, que colocou o cônjuge na terceira posição da vocação hereditária, atrás somente dos descendentes e ascendentes do de cujus (Pereira, 2015, p. 123).
Posteriormente, o Código Civil de 1916 manteve a posição do cônjuge no terceiro lugar da vocação hereditária, mantendo o que foi estabelecido pela Lei Feliciano de Pena, exatificando-se que, à época, o cônjuge não era herdeiro necessário, podendo ser afastado da sucessão pelo testamento. No entanto, há se de reconhecer a grande evolução do direito sucessório brasileiro, principalmente em relação ao cônjuge supérstite que, antes de 1907, detinha direito na sucessão legítima somente após colaterais em décimo grau, o que praticamente equivale a não deter qualquer direito sucessório; evoluindo-se a um direito razoável de herança após os descendentes e ascendentes; acrescendo-lhe, à época, o usufruto vidual (Carvalho Neto, 2005, p. 110).
No código civil de 1916 o Estado apenas reconhecia e conferia proteção à família matrimonializada, identificando-se, inclusive, uma injusta hierarquização das relações entre seus componentes, em virtude da ausência de igualmente formal entre os cônjuges, havendo uma nítida preferência pela figura masculina (o marido), em detrimento da esposa e dos filhos do casal, revelando-se o espelho de uma sociedade patriarcal, na qual o marido tinha a incumbência de sustentar economicamente a família, e à esposa só restava o dever de cuidar da casa e dos filhos (Alves, 2010, p. 61).
Nas lições de Safiotti (2015, p. 47), o patriarcado se consubstancia no regime da dominação exploração das mulheres pelos homens o que se constitui como uma realidade social no mundo ocidental desde a antiguidade, à exemplo da Roma antiga onde
O poder do Pater exercido sobre a mulher, os filhos, e os escravos era quase absoluto. A família como grupo é essencial para a perpetuação do culto familiar. No direito Romano, assim como grego, o afeto natural embora pudesse existir, não era o elo de ligação entre os membros da família. Nem nascimento, nem a afeição foram fundamento da família romana. O patrão podia nutrir o mais profundo sentimento por sua filha, mas bem algum de seu patrimônio lhe podia legar (Coulanges, 1958, v. 1:54). A instituição funda-se no poder paterno ou poder marital. Essa situação deriva do culto familiar, os membros da família antiga eram unidos por vínculo mais poderoso que o nascimento: a religião dos domésticos e o culto dos antepassados. Esse culto era dirigido pelo pater. A mulher, ao se casar, abandonava o culto do lar de seu pai e passava ao cultuar os deuses e antepassados do marido, a quem passava a fazer oferendas. (Venosa, 2001, p. 4)
O historiador francês, Fustel de Coulanges (1995, p. 90-91), que dedicou grande parte de seu trabalho ao estudo das civilizações, descreve mais detalhadamente a situação da mulher na sociedade antiga, através da obra “Cidade Antiga”, evidenciando que
o direito grego, o direito romano e o direito Indu, oriundo das crenças religiosas, concordaram ao reputarem a mulher sempre com o menor. A mulher nunca pode ter um lar para si, nunca poderá ser chefe do culto. Em Roma recebe o título de materfamilias, mas perde-o quando seu marido morre (145). Não tendo lar que lhe pertença, nada possui que lhe dê autoridade na casa. Nunca manda; não é livre, nem senhora de si própria, sui júris. Está sempre junto ao lar de outrem, repetindo a oração deste; para todos os atos da vida religiosa a mulher precisa de um chefe, e para os atos da sua vida civil necessita de tutor.
A Lei Manu diz: “a mulher durante sua infância depende de seu pai; durante a mocidade, de seu marido; morrendo marido, de seus filhos; se não tem filhos, dos parentes próximos de seu marido; porque a mulher nunca deve governar-se a sua vontade” (146). As leis gregas e as romanas dizem o mesmo. A filha, está sujeita a seu pai; morto pai, a seus irmãos e aos seus agnados (147); casada está sob tutela do marido; morto marido, não volta para sua própria família porque renunciou a esta para sempre pelo casamento sagrado (148); viúva fica submetida a tutela dos agnados de seu marido, isto é, a tutela de seus próprios filhos se os têm (149); ou, na falta destes, a dos parentes mais próximos do marido (150). Seu marido tem tanta autoridade sobre ela que pode antes de morrer designar-lhe tutor, até mesmo lhe escolher um segundo marido (151).
Para mostrar o poder do marido sobre a mulher, os romanos tinham uma expressão muito antiga, conservada pelos seus jurisconsultos: A palavra manus. Não parece fácil descobrir seu sentido primitivo. Os comentadores consideraram-na expressão da força material, como se a mulher estivesse colocada sob a mão brutal do marido. Há grandes possibilidades de que se enganem. O poder do marido sobre a mulher não podia resultar da força maior do primeiro. Derivava, como todo direito privado, das crenças religiosas que colocavam um homem em posição superior relativamente à mulher. Para provar o que dizemos, temos o fato de a mulher, não casando segundo ritos sagrados, e, por consequência, não estando associada ao culto, nunca se achar subordinada ao poder marital. Só o casamento produzia essa subordinação e, ao mesmo tempo, a dignidade da mulher.
Ou seja, a família foi fundada nas raízes de um solo patriarcal altamente religioso, que sempre colocou a mulher em posição de subjugação e subordinação, desprovida de qualquer autonomia e individualidade, o que claramente foi refletido na legislação ao longo de todo o tempo.
Segundo Peterman, (Pateman, 2008, p. 153),
Essas premissas têm origem na ideia de que o corpo das mulheres e suas paixões carnais, representam a “natureza” que tem que ser controlada e superada para que a ordem social mantida. As relações das mulheres no mundo social têm que ser sempre medidas pela razão do homem; o corpo das mulheres tem que ser sempre submetido a razão e as decisões do homem para que a ordem social não seja ameaçada.
Inclusive, a maioria dos teóricos clássicos da sociologia argumentam que a vida conjugal e familiar são parte da condição natural, onde os homens desfrutam da “superioridade” natural “de seu sexo” e, quando as mulheres se tornam esposas, supõe-se que elas sempre concordaram em participar do contrato de casamento que se submete ao marido, existindo, no estado de natureza, um sistema ordenado de casamento – ou a regra de exogamia –, onde todo homem tem acesso a uma mulher. (Pateman, 2008, p. 164).
Portanto, é extremamente difícil superar esse ideal de sociedade conjugal baseada no modelo patriarcal de família, que vigorou desde de o início da civilização ocidental, uma vez que a concepção da hierarquia entre os gêneros, que coloca o homem em posição superior à mulher em todos os âmbitos sociais, foi repassada de geração em geração, tal qual os bens de um acervo hereditário, de modo que o alicerce de uma sociedade patriarcal é a certeza de que os filhos, netos e bisnetos serão socializados dentro desse modelo de família, o que revela-se praticamente uma herança imaterial.
A consequência disso é a total ausência de consciência social e de gênero, tanto pelo homem – que raramente terá interesse em refletir acerca da necessidade alteração do estado social que o coloca em situação de superioridade e privilégio – quanto pelas mulheres, todas socializadas na ordem patriarcal de gênero, que sequer questionam a inferioridade social à que foram atribuídas, “o que evidencia que o sexismo não é apenas uma ideologia, mas, também, uma estrutura de poder, cuja distribuição é muito desigual em detrimento das mulheres” (Saffiotti, 2015, p, 47).
Essa mesma estrutura de poder, que se baseia na superioridade masculina, estabeleceu o que hoje chama-se “divisão sociossexual do trabalho” (Nogueira, 2024, p. 3), que consiste na lógica de que o desempenho de algumas atividades está relacionado com o gênero do indivíduo, de maneira que, aos homens, foram reservados, inicialmente, o trabalho fora do lar, caracterizando-o como o provedor da família e, para as mulheres, foi designado o trabalho doméstico.
Frederici (2019, p. 42-43) sustenta que
O trabalho doméstico não só foi imposto às mulheres como também foi transformado em um atributo natural da psique e da personalidade femininas, uma necessidade interna, uma aspiração, o que impediu o reconhecimento do trabalho doméstico como um verdadeiro trabalho, porque foi destinado a não ser remunerado, na lógica capitalista, pois, só assim, as mulheres aceitariam trabalhar sem uma remuneração.
E, diante dessa lógica capitalista, onde não há produção sem força de trabalho, a produção dessa força humana de trabalho ocorre, também, através da reprodução, da composição hierárquica da família patriarcal, através da mesma estrutura: “pai provedor, mãe cuidadora, filho homem futuro provedor e filha mulher futura cuidadora”, mantendo-se os papéis presentes nessa hierarquia social (Nogueira, 2024, p. 2).
O capital sempre necessitou que a mulher estivesse no lar, a cuidar da casa, dos filhos e do marido, para que o homem pudesse trabalhar. Não é por acaso que a maioria dos homens começa a pensar em se casar tão logo encontra o primeiro emprego, porque precisam ter alguém em casa a cuidá-los, sendo essa a única solução para não enlouquecer depois de passar o dia todo trabalhando. (Frederici, 2019, p. 45)
No entanto, diante do fenômeno da expansão do capitalismo e da produção em massa, aliado aos avanços – ou modificações – do papel da mulher na sociedade, aos poucos as mulheres foram conquistando determinado espaço do mercado de trabalho, o que não se revelou de modo igualitário à toda classe feminina, uma vez que, pode-se de dizer que as mulheres mais pobres sempre tiveram a necessidade de trabalhar, de maneira que no início do movimento feminista contemporâneo a mão de obra era mais de um terço composta por mulheres (hooks, 2018, p. 81).
A ideia de que o trabalho remunerado libertaria as mulheres da dominação masculina mostrou-se equivocada, e diversas mulheres sentiram-se furiosas, porque foram incentivadas pelo pensamento feminista que encontrariam libertação no mercado de trabalho e, ao revés, acabaram por se dar conta de que trabalhavam por longas jornadas em casa, e por longas jornadas no emprego (hooks, 2018, p. 83). Ou seja, “uma esposa que tem um emprego remunerado nunca deixa de ser uma dona de casa; pelo contrário ela se torna uma esposa que trabalha e aumenta sua jornada de trabalho” (Paterman, 2008, p. 213)
Peterman (2008, p. 146) salienta, ainda, que
Desde o século 17, as feministas têm argumentado que é falta de escolaridade que faz com que as mulheres pareçam menos capazes. A habilidade aparentemente a maior dos homens é resultado da educação deficiente das mulheres e da arte social (dos homens), não da natureza. Se ambos os sexos recebessem a mesma educação e tivessem as mesmas oportunidades para exercerem seus talentos, não existiriam diferenças políticas significativas nas habilidades das mulheres e dos homens.
Essa falta de escolaridade levou diversas mulheres ao mercado de trabalho desenvolvendo funções domésticas na casa de terceiros, ou funções caracterizadas como “subemprego”, recebendo uma remuneração ínfima, com mais de uma jornada de trabalho (fora e dentro do lar), mantendo-se, ainda, sob a dominação masculina.
Muito embora os maridos não desfrutem mais dos amplos direitos que exercia sobre a mulher, como por exemplo no século XIX quando as esposas estavam na condição legal de propriedade (Peterman, 2008, p. 20), em um passado não tão distante, na vigência do Código Civil de 1916, ainda vigorava o regime dotal de casamento, que consistia na transferência de propriedades dos pais, dinheiro ou outros bens para o marido, quando ocorria o casamento de uma filha, o que era regulamentado pelo no art. 278 e seguintes.
Aliás, para (Teixeira, 2019, p. 65), o Código Civil de 1916
trazia um agrupamento de disposições de discriminatórias em relação às mulheres, como a determinação de que a mulher era relativamente incapaz (art. 6), precisava de autorização do marido para exercer uma profissão (art. 246), e não podia exercer o pátrio poder (art. 233)
de modo que o homem era o chefe da sociedade conjugal, cabendo a ele a responsabilidade de tomar as decisões, sobretudo no que diz respeito às questões patrimoniais, enquanto a mulher ocupava um espaço secundário dentro da estrutura familiar rígida e hierarquizada (Teixeira, 2019, p. 65). Tal situação passou a ganhar novos contornos, no Brasil, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, conforme se verá adiante.
- Direito Sucessório Atual
Novas perspectivas nos Direitos da Mulher e no Direito de Família foram observadas a partir de 1962, através da aprovação do Estatuto da Mulher Casada Lei n. 4.121/62, considerado um marco de mudanças na legislação conservadora do País, de autoria da paulista Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada federal do Brasil e uma das principais pioneiras do movimento organizado de mulheres (Maciel, 2004). Foi através dessa novel legislação que que o caráter paternalista e machista da família idealizada pelo Código Civil de 1916 foi mitigado, melhorando substancialmente a condição da mulher na sociedade, que deixou de ser relativamente incapaz, passando a ser colaboradora do marido na sociedade conjugal, além de passar a titularizar bens próprios. (Alves, 2010, p. 79)
Percebe-se, ainda, uma alteração substancial no Direito de Família após a promulgação da Lei n. 6.515/77, que instituiu o divórcio no Brasil, sendo igualmente considerada um marco na história do país, porquanto foi a primeira produção legislativa a regular a possibilidade de dissolução do vínculo matrimonial (Alves, 2010, p. 76), uma vez que sua aprovação demorou décadas para se concretizar, sob a justificativa de que esse acontecimento ocasionaria o “fim da família”. Ou seja, para aqueles que eram contrários à lei do Divórcio, “permaneceriam os sujeitos casados para estabilidade da instituição familiar mesmo que, para isso, a felicidade de seus membros estivesse sepultada”. (Rosa e Alves, 2023, p. 188)
Isso porque, conforme anteriormente narrado, no Código Civil de 1916, a família era concebida como um fim em si mesma, constituída apenas pelo vínculo matrimonial e descendência biológica; logo, “assim teria que ser, a qualquer preço, independentemente do sacrifício pessoal de seus membros, uma vez que, a subordinação e o sofrimento da mulher seriam recompensados com um valor de maior importância, a manutenção do vínculo familiar”. (Alves, 2010, p. 63).
Na inteleção de Alves (2010, p. 14-15), no Código Civil de 1916
O patrimonialismo marcava as relações jurídicas nele consagradas. A título de ilustração, na seara dos Direitos Reais, a propriedade era absoluta, um fim em si mesma, garantia inarredável de felicidade (o ter prevalecia sobre o ser). No Direito Contratual, prevalecia aquilo que foi “livremente” pactuado pelas partes (pacta sunt servanda), independentemente da hipossuficiência de um dos contratantes (já que importava apenas a igualdade formal). O indivíduo, notadamente do gênero masculino, era tido como um ser abstraído de sua condição humana, voltado apenas para a realização de negócios jurídicos (enquanto sujeito de direitos), destacado em conhecidas quatro facetas, a de contratante, proprietário, testador e marido.
Portanto, a sociedade, até a Constituição Federal de 1988, somente se legislou a respeito da proteção de uniões sob o viés matrimonial, desprezando os sentimentos dos componentes familiares, que foram compelidos “a enquadrarem-se em um modelo familiar heterossexista, casamentário e monogâmico para que pudessem ter proteção jurídica.” (Rosa e Alves, 2023, p. 188)
A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, com a imposição de novos paradigmas, houve uma verdadeira revolução do Direito Civil Brasileiro, através do estabelecimento dos direitos fundamentais, tais como a dignidade da pessoa humana (art. 1, III) e a igualdade entre homens e mulheres (art. 5, I), igualdade entre os cônjuges (art. 225,§ 5º), dentre outros, “refletindo não apenas uma tendência metodológica, mas também a preocupação com a construção de uma ordem jurídica mais sensível aos problemas e desafios da sociedade contemporânea.” (RIBEIRO, 2020, p. 11)
Nesse sentido, após a “Constituição de 1988 passou-se a compreender que a proteção jurídica da família se justifica, não com fim em si mesmo, mas na medida em que constitui instrumento de desenvolvimento de proteção de seus membros” (Teixeira, Colombo, 2019 p. 156).
A entidade familiar não é mais composta de um único modelo preestabelecido, mas se apresenta sob múltiplas variações, representada pelas diversas modalidades de estrutura familiar que surgiram ao longo do tempo (Jereissati, 2019, p. 255). A valorização da família contemplada pela Constituição Federal de 1988 é “complementada pela lógica contemporânea de uma família eudemonista, servindo esta enquanto instrumento da realização da felicidade de seus membros” (Paulino da Rosa, 2023, p. 196).
É a partir dessa perspectiva que no Código Civil de 2002 as normas relativas ao direito sucessório são significativamente alteradas, principalmente no que tange à sucessão do cônjuge, que passa a herdar em concorrência com os descendentes e ascendentes na sucessão legítima, permanecendo em terceiro lugar na ordem de vocação hereditária, de modo que, na ausência dos descendentes e ascendentes, recebe a herança em sua totalidade (art. 1829) e, ainda, passa a ser considerado herdeiro necessário, não podendo ser afastado da sucessão através de testamento (art. 1845).
O Código Civil de 2002 divide o direito das sucessões em quatro partes, que vêm disciplinadas no Livro V da Parte Especial, a saber “Sucessão em Geral”, a qual abrange normas tanto a respeito da sucessão legítima, quanto da sucessão testamentária, referente à transmissão, à aceitação, à renúncia e à petição de herança e aos excluídos da herança; “Sucessão legítima”, que refere-se à sucessão que se opera por lei, na ausência de testamento, tratando da transmissão da herança às pessoas constantes da ordem de vocação hereditária, quer por direito próprio quer por direito de representação; “Sucessão Testamentária” contendo regras relativas à transmissão de bens, causa mortis, por ato de última vontade; e “ Inventário e Partilha”, que refere-se a normas sobre o processo judicial não contencioso, por meio do qual se efetua a divisão de bens entre os herdeiros. (Hironaka, 2007, p. 16-17).
Muito embora a morte e, por via de consequência, a sucessão de bens, seja inevitável na vida de todo o ser humano, o brasileiro não adotou o costume de realizar disposições de última vontade através do testamento, de modo que, na maioria dos casos, “ocorre a sucessão “ab intestato” onde uma pessoa que falace sem deixar testamento ou “morre intestada” (Pereira, 2002, p. 2)
Nesse sentir, Hironaka (2007, p. 265-265) argumenta que
O brasileiro não gosta, em princípio, de falar a respeito da morte, e sua circunstância é ainda bastante mistificada e guardada, como se isso servisse para “afastar maus fluídos e más agruras”. Assim, por exemplo, não se encontra arraigado em nossos costumes o hábito de adquirir, por antecipação, o lugar destinado ao nosso túmulo ou sepultura, bem como não temos, de modo mais amplamente difundido, o hábito de contratar seguro de vida, assim como, ainda, não praticamos, em escala significativa, a doação de órgãos para serem utilizados após a morte. Parece que essas atitudes no dito popular “atraem azar…”.
Mas, a par destas razões que igualmente poderiam estar a fundamentar a insignificante prática brasileira do costume de testar, talvez fosse útil relatar, como faz Zeno Veloso, que há certamente outra razão a ser invocada para justificar a pouca frequência de testamentos entre nós. Esta razão estaria diretamente direcionada à excelente qualidade do nosso texto legislativo, a respeito da sucessão legítima. Quer dizer, o legislador brasileiro quando produziu as regras relativas à sucessão, o fez de maneira muito primorosa, chamando a suceder exatamente aquelas pessoas que o de cujus elencaria se, na ausência de regras, precisasse produzir testamento. Pode-se dizer, como o fez antes, na França, o insuperável PLANIOL, que a regulamentação brasileira a respeito da sucessão ab intestato opera assim como se fosse um “testamento tácito” ou “um testamento presumindo” dispondo exatamente como faria o de cujos caso houvesse testado.
Se assim for, compreende-se então a escassez de testamentos no Brasil, pois estes só seriam o mesmo utilizados quando a vontade do de cujos fosse distinta daquela naturalmente esculpida na diagramação legislativa.
Todavia, com o passar do tempo, algumas disposições legislativas acerca do direito sucessório passaram a ganhar certa rejeição de parte da sociedade que, de um modo geral, busca maior autonomia para poder realizar suas disposições de última vontade. Isso se deve, principalmente, ao fato de que o Código Civil de 2002 trouxe, na sucessão legítima, o cônjuge herdando em concorrência com os descendentes e ascendentes e, no que diz respeito à sucessão testamentária, o cônjuge passou a figurar como herdeiro necessário, não podendo ser afastado da sucessão.
Além disso, o direto brasileiro, seguindo a orientação da maioria das legislações, consagrou um sistema de limitada liberdade de testar, dispondo o art. 1789 do Código Civil que, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade dos seus bens, pois a outra metade constitui a legítima ou reserva daqueles herdeiros (Rodrigues, 2007, p. 19).
Isso, sem deixar de mencionar a situação do convivente na sucessão do falecido que, consoante disposto no art. 1.790 do Código Civil, apenas herdava os bens adquiridos onerosamente pelo casal, nada recebendo, no entanto, relativamente aos bens particulares do hereditando, além de concorrer com os parentes colaterais até o 4º grau do de cujus, na 3ª classe da ordem de vocação hereditária, de modo que, “somente na falta desses, seria chamado para herdar, por direito próprio, a totalidade do acervo hereditário” (Hironaka, 2007, p. 56-57).
Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal, através do Recurso Extraordinário n. 878.694, reconheceu, de forma incidental, a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil/2002, declarando o direito do convivente em participar da herança do companheiro em conformidade com o regime jurídico estabelecido aos cônjuges, disposto art. 1.829 do Código Civil de 2002.
Todavia, no referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal não mencionou expressamente se o companheiro seria herdeiro necessário e, apesar de a decisão ter sido objeto de embargos de declaração opostos pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), - que atuou como amicus curiae –, objetivando tal esclarecimento, o Ministro Luís Roberto Barroso rejeitou-os, sob o fundamento de que a repercussão geral reconhecida diz respeito apenas à aplicabilidade do artigo 1.829 do Código Civil às uniões estáveis, e não dos demais dispositivos concernentes ao direito sucessório do cônjuge. (Paulino da Rosa, 2022, p. 45-46)
Sendo assim, em que pese o Supremo Tribunal Federal não tenha declarado expressamente que o companheiro/convivente também é herdeiro necessário, o Superior Tribunal de Justiça desde 2018 adotou esse posicionamento, através do REsp 1357117 / MG, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, consignando expressamente que, no caso concreto, “a companheira, ora recorrida, é de fato a herdeira necessária do seu ex-companheiro, devendo receber unilateralmente a herança do falecido, incluindo-se os bens particulares, ainda que adquiridos anteriormente ao início da união estável.”
Tal posicionamento é alvo de duras críticas da doutrina brasileira, que entende não ser acertado o posicionamento de atribuir a qualidade de herdeiro necessário ao companheiro, devendo ainda subsistir uma diferenciação do regime sucessório entre o companheiro e o cônjuge, diante da informalidade que geralmente permeia as relações convivenciais, em contraposição à formalidade e solenidade que origina uma relação matrimonial.
Diante de tamanha discordância de parte da sociedade com as mencionadas disposições legais acerca do direito das sucessões, o planejamento sucessório surge como uma alternativa, “propondo a adoção de providências que procuram preservar autonomia privada e prevenir os conflitos familiares, por meio da adesão, pelos titulares do patrimônio, de soluções para transmissão de seus bens” (Matos, Hummelgen, 2019, p. 33)
Nas lições de Madaleno (2014, p. 190), o planejamento sucessório
compreende um conjunto de projeções realizadas em vida, para serem cumpridas como manifestação de um querer especial, sobrevindo a morte do idealizador, sendo então cumprida sua vontade em sintonia com seus antecipados desígnios, tudo com vistas ao bem comum de seus herdeiros, construindo um ambiente de pacífica transição da titularidade da herança, contribuindo o planejamento da sucessão para a melhor perenização do acervo do espólio.
No entanto, apesar de o planejamento sucessório construir alternativas para a melhor divisão de bens entre os herdeiros do falecido, de acordo com sua vontade declarada em vida, ainda resta, perante a sociedade, um anseio de maior autonomia nas disposições de última vontade, ou mesmo que, diante das limitações legais impostas na sucessão, espera-se que as restrições sejam impostas quando for identificada maior necessidade de acordo com as particularidades de um caso concreto, como, por exemplo, quando se está diante de herdeiros vulneráveis.
Isso porque, nas lições de Paulino da Rosa (2022, p. 51)
A presunção absoluta de afeto que fundamenta a legítima com base no vínculo de parentesco mostra-se excessivamente abstrata, pois deixa de contemplar circunstâncias concretas que podem exigir maior ou menor proteção patrimonial dos membros da família, como a existência de fator de vulnerabilidade ou a independência financeira, respectivamente.
Nesta toada, com vistas à adequação das normas de Direito Sucessório à nova realidade social, surgiram algumas alternativas para alteração dos dispositivos legais ora vigentes, à exemplo do Projeto de Lei n. 3.799/2019, de autoria da Senadora Soraya Thronicke (PSL/MS), formulado em parceria com o IBDFAM, bem como a tão sonhada reforma do Código Civil, objeto do presente trabalho, que serão abordados mais detalhadamente adiante.
- A Reforma do Código Civil e Seus Efeitos na Sociedade Contemporânea
A reavaliação do Direito das Sucessões decorre, principalmente da “industrialização da urbanização; da redução da dimensão da família; do processo de mobilidade social; da incorporação da mulher no mercado de trabalho” (Teixeira, 2019, p. 63). Isso, sem deixar de ressaltar a consciência social acerca da tutela de direito das pessoas vulneráveis, que tem crescido a cada dia.
À vista disso, Projeto de Lei n. 3.799/2019, de autoria da Senadora Soraya Thronicke (PSL/MS), formulado em parceria com o IBDFAM, propõe alterações normativas no Direito Sucessório, que serão esquematizadas algumas a seguir:
-
Ordem de vocação hereditária na sucessão legítima (art. 1829):
- Atribui expressamente o direito de herança do companheiro em igualdade com o cônjuge na sucessão legítima;
- Mantem a concorrência do cônjuge ou companheiro com os descendentes e ascendentes. No entanto, apenas relativamente aos bens, benfeitorias e frutos/produtos, adquiridos, realizadas ou percebidas, respectivamente, na constância do casamento ou união estável. Ou seja, o cônjuge não herda em concorrência com os bens particulares – adquiridos antes da constituição do casamento ou união estável –, como é definido pelo código civil atual, onde o cônjuge, em concorrência com os descendentes herda somente os bens particulares do falecido e, em concorrência com os ascendentes, herda tanto os bens particulares, quanto os bens comuns.
-
Direito real de habitação (art. 1831):
- Mantém o direito real de habitação do cônjuge ou companheiro, além de estender tal direito aos descendentes incapazes ou com deficiência, bem como aos ascendentes vulneráveis que residiam com o autor da herança ao tempo de sua morte, podendo ser exercido em conjunto pelos respectivos titulares;
- Determina a perda do direito real de habitação quando seu titular tiver renda ou patrimônio suficiente para manter sua respectiva moradia, ou quando constituir nova entidade familiar, o que não é previsto pelo atual Código Civil, onde não há limitações para o exercício do direito real de habitação do cônjuge ou companheiro.
-
Rol de herdeiros necessários (art. 1.845)
- O cônjuge é retirado do rol de herdeiros necessários, mantendo-se apenas, os descendentes e ascendentes;
-
Legítima (art. 1846)
- Mantém a legítima em metade dos bens da herança;
- Prevê que o testador poderá destinar um quarto da legítima aos descendentes, ascendentes, a cônjuge ou companheiro com vulnerabilidade.
-
Insuficiência de recursos (art. 1.850, §2º)
- Prevê que o cônjuge ou o companheiro com insuficiência de recursos ou de patrimônio para sua subsistência terá direito a constituição de capital cuja renda assegure a sua subsistência.
Percebe-se, portanto, um grande acerto trazido pelo PL 3.799/19, que se preocupa em tutelar o direito sucessório de pessoas consideradas vulneráveis, as quem caracteriza como
aquelas que tenham impedimento de longo prazo ou permanente, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em relação a sua idade ou meio social, implica desvantagens consideráveis para sua integração familiar, social, educacional ou laboral, obstruindo sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
Já, com relação ao direito sucessório do cônjuge, Teixeira e Colombo (2019, p. 65) argumentam que
alterações trazidas pelo PL 3.799/19 pretendem atender às realidades plurais, considerando a inserção da mulher no mercado de trabalho e a previsão condicional de igualdade de gêneros entre os cônjuges, o que reduz a eventual vulnerabilidade de um ou outro cônjuge e ou companheiro, sem deixar de mencionar que caso seja constatada de fato vulnerabilidade, inclui-se a possibilidade de que o cônjuge desfavorecido não permaneça desassistido.
Ademais, nessa pretensão de alteração legislativa não é retirada a concorrência dos cônjuges com os demais herdeiros da sucessão legítima – apenas restringindo-a aos bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável – diferentemente do que propõe a Reforma do Código Civil de 2002, que através de comissão de juristas criada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, elaborou novas propostas de alteração do diploma civilista, as quais serão esquematizadas a seguir:
-
Ordem de vocação hereditária na sucessão legítima (art. 1829):
- Atribui expressamente o direito de herança do companheiro em igualdade com o cônjuge na sucessão legítima;
- Retira completamente a concorrência do cônjuge ou companheiro com os descendentes e ascendentes.
-
Direito real de habitação (art. 1831):
- Mantém o direito real de habitação do cônjuge ou companheiro, além de estender tal direito aos descendentes incapazes ou com deficiência, bem como aos ascendentes vulneráveis que residiam com o autor da herança ao tempo de sua morte, devendo ser exercido em conjunto por todos;
- Determina a perda do direito real de habitação quando qualquer um dos titulares do direito à habitação tiver renda ou patrimônio suficiente para manter sua respectiva moradia, ou quando constituir nova família, o que não é previsto pelo atual Código Civil, onde não há limitações para o exercício do direito real de habitação do cônjuge ou companheiro.
-
Rol de herdeiros necessários (art. 1.845)
- O cônjuge é retirado do rol de herdeiros necessários, mantendo-se apenas, os descendentes e ascendentes;
-
Legítima (art. 1846)
- Mantém a legítima em metade dos bens da herança;
- Prevê que o testador o testador, se quiser, poderá destinar até um quarto da legítima a descendentes e ascendentes que sejam considerados vulneráveis ou hipossuficientes. Perceba-se que, diferentemente do PL 3.799/19, essa alternativa não é possível em se tratando de cônjuge ou companheiro vulnerável, sendo limitada somente aos descendentes e ascendentes.
-
Insuficiência de recursos (art. 1.850, §2º)
- Prevê que o juiz instituirá usufruto sobre determinados bens da herança para garantir a subsistência do cônjuge ou convivente sobrevivente que comprovar insuficiência de recursos ou de patrimônio.
Percebe-se claramente que as disposições relativas ao direito sucessório do cônjuge ou companheiro, em comparação com o Código Civil de 2002, são ainda mais restritas no texto trazido pela Reforma do Código Civil, do que no texto trazido pelo PL 3.799/19, uma vez que no projeto de reforma do código, a concorrência do cônjuge ou companheiro com os descendentes ou ascendentes é totalmente excluída, seja qual for o regime de bens e, ainda, não há possibilidade de reserva de um quarto da herança ao cônjuge ou companheiro vulnerável.
As justificativas apresentadas no projeto de reforma para tais medidas consubstanciam-se na progressiva igualdade entre homens e mulheres na família e do ingresso da mulher no mercado de trabalho, bem como do fenômeno cada vez mais crescente das famílias recompostas, chegando-se à conclusão de que o cônjuge ou companheiro não deveriam mais figurar como herdeiros necessários, muito menos concorrer com os descendentes e ascendentes do autor da herança. Alie-se isso, ao fato de que há, por parte de alguns juristas, a pretensão de que o Brasil desenvolva maior costume de realizar testamentos e, portanto, àqueles que tenham vontade de atribuir herança ao cônjuge, bastaria recorrer ao testamento.
Porém, a partir de uma análise estatística acerca da real condição da mulher no Brasil atual, será que se pode definir que este é o melhor momento para retirar tão bruscamente os direitos sucessórios do cônjuge, como pretende a Reforma do Código Civil?
Isso porque, a atribuição de “privilégios” no direito sucessório do cônjuge pelo Código Civil de 2002 teve como objetivo que garantir, do ponto de vista social, que ele mantivesse o mesmo padrão de vida que tinha quando o de cujus era vivo, sob a “legítima presunção de que o cônjuge participou da construção do patrimônio familiar, seja pela cooperação direta do trabalho, seja pela participação direta de apoio, de economias, de harmonia, e até de sacrifícios” (Pereira, 2002, p. 76).
Além disso, ao analisar a situação sob honesta perspectiva de gênero, não é difícil chegar à conclusão de que “ainda não conseguimos superar as barreiras socioculturais que impedem a adoção de tratamentos efetivamente igualitários entre homens e mulheres, principalmente em relação a seu papel na sociedade e aos direitos que possuem” (Nogueira, 2024, p. 68).
Para Safiotti (2015, p. 114)
não basta que uma parte das mulheres ocupem posições econômicas, políticas, religiosas etc., tradicionalmente reservadas aos homens, uma vez que, qualquer que seja profundidade da dominação exploração das mulheres pelos homens, a natureza do patriarcado continua a mesma.
Basta olhar para as estatísticas obtidas nas recentes pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que demonstram que atualmente mais de 2,5 milhões de mulheres não trabalharam para cuidar de parentes ou das tarefas domésticas (Martins, 2023). Além disso, em 2022, mulheres dedicaram 9,6 horas por semana a mais do que os homens aos afazeres domésticos ou ao cuidado de pessoas (Nery, Brito, 20223), bem como que uma grande parcela da população feminina não trabalha fora do lar quando há crianças de até 03 anos em casa (IBGE, 2021).
Outra pesquisa realizada pelo IGBE (2021) acerca dos indicadores socias das mulheres no Brasil revelam que
A Taxa de participação (CMIG 3), que tem como objetivo medir a parcela da população em idade de trabalhar (PIT) que está na força de trabalho, ou seja, trabalhando ou procurando trabalho e disponível para trabalhar, aponta a maior dificuldade de inserção das mulheres no mercado de trabalho. Em 2019, a taxa de participação das mulheres com 15 anos ou mais de idade foi de 54,5%, enquanto entre os homens esta medida chegou a 73,7%, uma diferença de 19,2 pontos percentuais.
Isso se deve ao fato que, como muito bem explanado nos tópicos anteriores, a sociedade brasileira foi constituída sobre raízes patriarcais, caracterizada pela divisão sociossexual do trabalho, onde para as mulheres foram reservadas as tarefas domésticas e de cuidado, de modo que, ainda hoje, milhares de mulheres mantem-se fora do mercado de trabalho, porque lhe foi imposto – pelo costume – o cuidado com o lar, com os filhos e com o marido.
Em outras palavras, retirar o direito do cônjuge à concorrência sucessória na sucessão legítima, pode impor à uma grande parcela de mulheres uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, se considerar que, ainda hoje, milhares de mulheres estão fora do mercado de trabalho, não possuindo patrimônio próprio, dependendo financeiramente do marido, correndo o risco de, com o falecimento do cônjuge, sofrer uma brusca alteração no padrão de vida, recebendo apenas o “mínimo existencial”, em contraprestação há dedicação de uma vida inteira em prol do marido, da família e dos filhos.
Desse modo, apesar de ser absolutamente necessária revisão do direito sucessório do cônjuge, a abrupta retirada de alguns desses direitos revelam-se demasiadamente prejudicial à essa categoria, principalmente a partir de uma análise sob perspectiva de gênero.
Em vista de tanto, entende-se, ainda, que a proposta de alteração legislativa trazida pelo PL 3.799/19, elaborada em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito de Família encontram-se mais adequada à atual realidade social da mulher brasileira, uma vez que, apesar de retirar do cônjuge a qualidade de herdeiro necessário, mantém a concorrência do cônjuge com os demais herdeiros legítimos, pelo menos em relação aos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento.
Se por um lado, há legítima pretensão de fomento ao costume de se realizar testamentos no brasil, propõe-se, então, a inversão da lógica adotada pelos reformistas, a fim de que, não sendo o cônjuge herdeiro necessário, mas permanecendo como herdeiro legítimo em concorrência com os demais herdeiros da mesma natureza, caso o testador não tenha a pretensão de contemplá-lo com a herança de seus bens, basta testar sem contemplá-lo.
A este propósito, a professora Ana Luiza Tavares (2024, p. 10) ainda propõe alternativas para melhor adequação dos direitos sucessórios do cônjuge na reforma do Código Civil, utilizando-se de critérios subjetivos para fixação da herança, a como por exemplo quantificação da quota hereditária do cônjuge e do companheiro, levando em conta a
a) meação atribuída ao consorte sobrevivente ou a existência de bens comuns com o falecido; b) dependência econômica do cônjuge e do companheiro sobreviventes em relação ao autor da herança; c) as particularidades e necessidades dos demais herdeiros concorrentes; d) a duração do vínculo conjugal ou da união estável; e) a contribuição do cônjuge e do companheiro sobreviventes para a prosperidade e para o bem-estar do falecido e de sua família e para a formação do acervo patrimonial hereditário; f) a idade do cônjuge e do companheiro sobreviventes.
Sendo assim, não parece razoável que o legislador, ciente da ainda latente desigualdade entre homens e mulheres, principalmente no mercado de trabalho, entenda pela retirada dos direitos sucessórios do cônjuge de uma maneira tão drástica, fazendo com que o cônjuge tenha direito à herança somente se for contemplado em testamento, uma vez que a Lei tem o dever de resguardar esse direito, principalmente levando em consideração a necessidade de reparação histórica das mais diversas violações de direitos e liberdades individuais sofridas pelas mulheres desde o início da civilização ocidental, que as colocou em situação de subordinação e subserviência, de modo que até os dias atuais elas estejam experimentando os dissabores da desigualdade de gênero, que apesar de estar sendo altamente combatida por uma parcela da sociedade, mantem-se entranhada em todas as camadas sociais.
3.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme abordado ao longo desta pesquisa, o direito sucessório do cônjuge sofreu grandes alterações ao longo do tempo, deixando de ser exercido em penúltimo lugar, atrás dos parentes colaterais até o décimo grau do de cujus, como disciplinava as Ordenações Filipinas, para alcançar importantes privilégios, conforme estabelece a legislação atual vigente, onde o cônjuge herda em concorrência com os descendentes e, na falta deles, com os ascendentes do de cujus.
Diante da crescente consciência social acerca da necessidade de igualdade material entre homens e mulheres – já que a igualdade formal passou a ser estabelecida através da Constituição Federal de 1988 –, o legislador encontrou, no direito sucessório, uma alterativa para solucionar a desigualdade pré-estabelecida, conferindo ao cônjuge supérstite a qualidade de herdeiro necessário, bem como o direito a herdar em concorrência com os demais herdeiros do falecido.
Em outras palavras, essa alteração legislativa no direito sucessório levou mulheres que, via de regra, não estavam no mercado de trabalho – já que eram condicionadas pelo patriarcado a serem donas do lar – e, por via de consequência, não possuíam patrimônio próprio, a herdarem o patrimônio de seus cônjuges em igualdade com os descendentes e ascendentes, possibilitando, assim, a manutenção do padrão de vida que possuíam durante a constância do casamento.
Nesse sentido, a pretensão trazida pelo Anteprojeto de Reforma do Código Civil de retirar do cônjuge, abruptamente, a qualidade de herdeiro necessário, bem como seu direito à concorrência sucessória, justificada na progressiva igualdade entre homens e mulheres na família e do ingresso da mulher no mercado de trabalho, não se revela a mais adequada no presente momento, tendo em vista a ainda latente desigualdade entre homens e mulheres na sociedade, de acordo com as estatísticas apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Assim sendo, propõe-se, ao menos, a inversão da lógica adotada pelos reformistas, a fim de que, retirada do cônjuge a qualidade de herdeiro necessário na sucessão testamentária, a Lei assegure seu direito à concorrência sucessória na sucessão legítima, além de, seguindo o entendimento da professora Ana Luiza Tavares, ser possível a adoção de critérios subjetivos para a quantificação da quota hereditária do cônjuge.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Direito de família mínimo: a possibilidade de aplicação e o campo de incidência da autonomia privada no Direito de Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
BRASIL. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Institui o Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Diário Oficial da União: Diário Oficial da União - Seção 1 - 5/1/1916, Página 133.
BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). RE 878694/MG. Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. […]5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. Recorrente: Maria de Fatima Ventura e outros(as). Recorrido: Rubens Coimbra Pereira e outros(as). Relator: Min. Luís Roberto Barroso, 06 de fevereiro de 2018. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur379763/false. Acesso em: 05-06-2024.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Terceira Turma). REsp 1357117/MG. Recurso Especial. Civil. Processual Civil. Direito de Família e das Sucessões. União Estável. Art. 1.790 Do CC/2002. Inconstitucionalidade. Art. 1.829 do CC/2002. Aplicabilidade. Vocação Hereditária. Partilha. Companheiro. Exclusividade. Colaterais. Afastamento. Arts. 1.838 e 1.839 do CC/2002. Incidência […]. Recorrente: M F L outros(as). Recorrido: W R G. Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 26 de março de 2018. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?num_registro=201202570435. Acesso em: 05-06-2024.
BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei n° 3799, 02 de julho de 2019. Altera o Livro V da Parte Especial da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e o Título III do Livro I da Parte Especial da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, para dispor sobre a sucessão em geral, a sucessão legítima, a sucessão testamentária, o inventário e a partilha. Brasília: Senado Federal, 2019. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137498. Acesso em: 26-05-2024.
CARVALHO NETO, Inacio Bernardino de. A evolução do direito sucessório do cônjuge e do companheiro no direito brasileiro: da necessidade de alteração do Código Civil. 2005. Tese (Doutorado em Direito Civil) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: doi:10.11606/T.2.2005.tde-14082008-080512. Acesso em: 2024-05-11.
COLOMBO, Maici Barboza dos Santos, TEIXEIRA, Daniele Chaves. Faz Sentido a Intangibilidade da Legítima no Ordenamento Jurídico Brasileiro?. In: TEIXEIRA, Daniele Chaves (Coord.) Arquitetura do Planejamento Sucessório, 2. ed., rev., ampl. e atual., Fórum: Belo Horizonte, 2019.
FEDERICI, Silvia. O Ponto Zero da Revolução: Trabalho Doméstico, Reprodução e Luta Feminista. 1. ed., Elefante: São Paulo, 2019.
HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes, Comentários ao código civil: Parte Especial Do Direito das Sucessões: da sucessão em geral; da sucessão legítima (artigos 1.784 a 1.856), v. 20, 2ª ed., Saraiva: São Paulo, 2007.
HUMMELGEN, Isabela, MATOS, Ana Carla Harmatiuk. Notas Sobre as Relações de Gênero no Planejamento Sucessório. In: TEIXEIRA, Daniele Chaves (Coord.) Arquitetura do Planejamento Sucessório, 2. ed., rev., ampl. e atual., Fórum: Belo Horizonte, 2019.
HOOKS, bell. O feminismo é para todo mundo: Políticas arrebatadoras, 16. ed., Rosa dos Tempos: Rio de Janeiro, 2018.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Estatísticas de Gênero: ocupação das mulheres é menor em lares com crianças de até três anos. Agência IBGE, Estatísticas Sociais, 04 de março de 2021. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/12/06/ibge-sintese-de-indicadores-sociais-2023.ghtml. Acesso em: 27-05-2024.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Estatísticas de Gênero: Indicadores sociais das mulheres no Brasil. Estudos e Pesquisas, Informação Demográfica e Socioeconômica, n.38. 1ISBN 978-65-87201-51-1. Disponível em https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101784_informativo.pdf. Acesso em: 27-05.2024.
JEREISSATI, Régis Gurgel do Amaral. A Vulnerabilidade, A Solidariedade Familiar e a Afetividade Como Critérios Para Reconhecimento do Herdeiro Necessário na Sucessão Legítima. In: TEIXEIRA, Daniele Chaves (Coord.) Arquitetura do Planejamento Sucessório, 2. ed., rev., ampl. e atual., Fórum: Belo Horizonte, 2019.
MADALENO, Rolf. Planejamento Sucessório. IN: Congresso Brasileiro de Direito de Família, Famílias: Pluralidade e Felicidade, 9., 2014, Araxá. Anais eletrônicos. Belo Horizonte: IBDFAM. 2014. p. 189-214.
MARCEL, Mércia. Estatuto da Mulher. Câmara dos Deputados, Brasília, 2004. Disponível em: URL https://www.camara.leg.br/radio/programas/243373-estatuto-da-mulher/. Acesso em: 01-06-2024.
MARTINS, Rafael. Mais de 2,5 milhões de mulheres não trabalharam para cuidar de parentes ou das tarefas domésticas. G1, 06 de dezembro de 2023. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/12/06/ibge-sintese-de-indicadores-sociais-2023.ghtml. Acesso em: 27-05-2024.
NERY, Carmen, BRITO, Vinícius. Em 2022, mulheres dedicaram 9,6 horas por semana a mais do que os homens aos afazeres domésticos ou ao cuidado de pessoas. Agência IBGE, Estatísticas Sociais, 11 de agosto de 2023. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37621-em-2022-mulheres-dedicaram-9-6-horas-por-semana-a-mais-do-que-os-homens-aos-afazeres-domesticos-ou-ao-cuidado-de-pessoas#:~:text=A%20mulher%20n%C3%A3o%20ocupada%20dedicou,13%2C4%20horas%20em%202022.&text=As%20mulheres%20ocupadas%20dedicaram%2C%20em,e%2Fou%20cuidado%20de%20pessoas. Acesso em: 27-05-2024.
NERY, Rosa Maria, TARTUCE, Flávio, Relatório Final dos trabalhos da Comissão de Juristas responsável pela revisão e atualização do Código Civil. Brasília, 2024. Disponível em: https://www6g.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9586171&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaZYXYpoyAs16NFMzVl_Okltv4wIiXwUo1nd5a2Pcfdif6kkDm7SFo6fUc0_aem_AUWSPjvWmtknXJE6n0VkW4jLZoZrhEoyq0rTfJ3wVaJl0sobxOM0tyXbDdcnE6YnePDQVztFw8VAjrvc3S0i2Atf. Acesso em: 05-06-2024.
NEVARES, Ana Luiza Maia, Do "super" cônjuge ao "mini" cônjuge: A sucessão do cônjuge e do companheiro no anteprojeto do Código Civil. Migalhas, 25 de abril de 2024. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/406048/do-super-conjuge-ao-mini-conjuge-a-sucessao-do-conjuge. Acesso em: 03-06-2024.
NOGUEIRA, Claudia Mazzei, O trabalho feminino assalariado: a dialética na produção e reprodução, Serviço Social & Sociedade, v. 147, n. 3, São Paulo, 2024, https://doi.org/10.1590/0101-6628.358. Acesso em: 24-05-11.
Ordenações Filipinas: Livros IV e V. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, p. 947-948. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/242733. Acesso em: 25-05-2024
PATEMAN, Carole. O Contrato Sexual. 4. ed., Paz & Terra: São Paulo, 2008.
PEREIRA, Caio Mario da Silva, Instituições de Direito Civil, Volume VI, Direito das Sucessões, 28. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002.
RIBEIRO, Bruno Marques. O direito sucessório brasileiro entre a autonomia e a solidariedade: uma análise sobre a necessidade de revisão do instituto da legítima no direito civil. 2020. Tese (Doutorado em Direito Civil) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. doi:10.11606/T.2.2020.tde-29042021-194010. Acesso em: 11-05-2024.
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Direito das Sucessões, v. 7. 26 ed. Saraiva: São Paulo, 2007.
ROSA, Conrado Paulino da. Planejamento Sucessório:Teoria e Prática, 1. ed., Juspodivm: Salvador, 2022.
ROSA, Conrado Paulino da, ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Direto de Família Mínimo na Prática Jurídica. 2. ed., rev. e atual., JusPodivm: Salvador, 2023.
SAFFIOTI, Heleieth. Gênero, Patriarcado, Violência. 2. ed., Expressão Popular: São paulo, 2015.
TEIXEIRA, Daniele Chaves. Noções Prévias do Direito das Sucessões: sociedade, funcionalização e planejamento sucessório, In: TEIXEIRA, Daniele Chaves (Coord.) Arquitetura do Planejamento Sucessório, 2. ed., rev., ampl. e atual., Fórum: Belo Horizonte, 2019.
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucessões. V. 6, 2. ed., Atlas: São Paulo, 2001.
Os artigos assinados aqui publicados são inteiramente de responsabilidade de seus autores e não expressam posicionamento institucional do IBDFAM